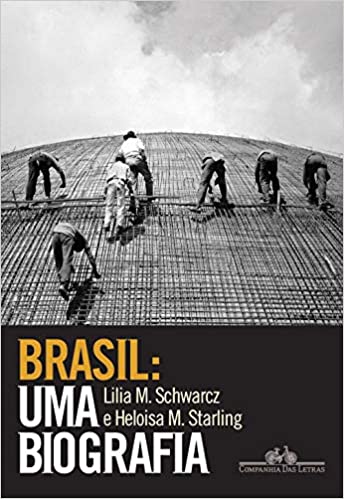Miguel Medeiros quoted Brasil by Lilia Moritz Schwarcz
Vale lembrar um aspecto crucial, e muito peculiar, da economia açucareira no Brasil: a ausência de refinarias. E não apenas na colônia como também na metrópole portuguesa, que durante vários anos acabou deixando, além do comércio, a manufatura final do açúcar na mão dos holandeses. O Brasil ficou mais conhecido por seu açúcar “barreado”, resultado do produto ainda não refinado que se denominava de “pardo” ou “mascavado”. Esse tipo de açúcar, que circulou bastante pelas Antilhas e se tornou matéria-prima nas indústrias de refinação da Europa do Norte, representou grande parte da nossa produção.
Por falar nisso, sempre houve desconfiança em relação ao açúcar do Brasil. Falsificação na pesagem das caixas ou mesmo na declaração da qualidade era de praxe. “Açúcares inferiores” eram classificados como “brancos”; “açúcares batidos”, chamados de “machos” e considerados superiores. Como se vendia a caixa fechada, não existindo possibilidade de avaliar seu conteúdo, virou prática corrente colocar pedras no fundo das madeiras para aumentar o peso. Comerciantes reclamavam muito de tal expediente, dizendo que o “açúcar mais escuro” e as “atitudes mais escuras” acabavam com a reputação do mercado brasileiro. As consequências dessa associação entre o branco do açúcar — vinculado à “pureza” e assim valorizado — e o produto mais escuro, reputado como de pior qualidade, teriam vida metafórica longa no país.
Logo se ligou o branco dos senhores e o negro dos escravos a uma “evidência natural”: uma hierarquia dada pela natureza. A posição diferente dos dois grupos passava a ser explicada não por motivos históricos, econômicos e políticos, mas pelas cores da cana e pelo suposto “natural” de que quanto mais branco, melhor. Por sinal, até hoje a população brasileira se descreve a partir de graus de brancura que corresponderiam a níveis distintos na hierarquia da sociedade: “branco melado”, “branco sujo”, “quase branco”, “puxado para branco”, “mestiçado”, são termos que denunciam persistências e continuidades na percepção social das cores no Brasil.
Cana e escravidão formavam, assim, um par “intenso e extenso”. Se o cultivo e corte da cana levava um semestre inteiro, o fabrico do açúcar ocupava o outro semestre do ano, e os serviços eram sempre árduos. Para dar uma ideia do tamanho da empreitada, mencionamos o exemplo do Sergipe do Conde, um engenho do século XVII no Recôncavo baiano que realizava cerca de 203 “tarefas” — como era chamado o conjunto de afazeres desses estabelecimentos —, o que correspondia a uma média de trezentos dias de trabalho. Labutava-se dia e noite, em duas turmas, que lidavam com a moagem e o cozimento. O setor que cuidava da purga, secagem e encaixotamento precisava de um período apenas. No entanto, permanecia em atividade por dezoito horas ou mais. Além disso, aos domingos e feriados, na maioria dos engenhos os escravos trabalhavam na produção agrícola de alimentos para consumo próprio, ou na pesca em algum rio próximo, sem os quais sua dieta ficaria ainda mais reduzida e pobre.
Independente do setor, a jornada alcançava o limite da exaustão. Para ajudar a aliviar o cansaço e a manter o ritmo ensandecido, a labuta era acompanhada por cantos, que também uniam o grupo, melhoravam o moral e auxiliavam a vencer o jugo das horas ininterruptas de trabalho. Segundo o reverendo Wash, um clérigo que esteve no Brasil nessa época, os cativos acordavam às cinco da manhã, faziam suas orações e seguiam para o campo. Tomavam um pequeno desjejum às nove, e ao meio-dia almoçavam, lá mesmo, no campo. Depois pegavam novamente na enxada, e até o anoitecer. No período da safra, tudo se tornava mais corrido. Comentava-se que então os engenhos operavam por vinte horas seguidas, para quatro de descanso e limpeza do equipamento.
— Brasil by Heloisa Murgel Starling, Lilia Moritz Schwarcz (Page 74 - 76)