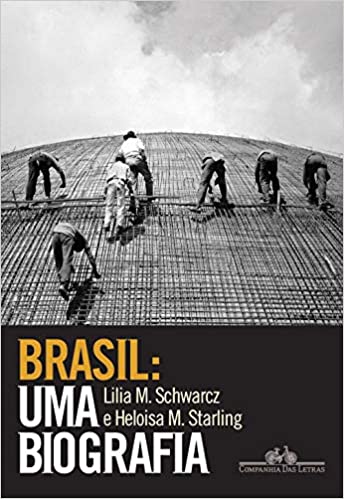Miguel Medeiros quoted Brasil by Lilia Moritz Schwarcz
Por sinal, passada a euforia dos primeiros momentos da Lei Áurea, de 1888, foram ficando claras as falácias e incompletudes da medida. Se ela significou um ponto final no sistema escravocrata, não priorizou uma política social de inclusão desses grupos, os quais tinham poucas chances de competir em igualdade de condições com demais trabalhadores, sobretudo brancos, nacionais ou imigrantes. A impressão era a de que seria preciso apagar o “passado negro”, conforme teria dito Rio Branco, o ministro de Relações Exteriores, num duplo ato falho. Vale lembrar a estrofe do novo Hino da República, que, como sabemos, foi escrito no início de 1890 e conclamava: “Nós nem cremos que escravos outrora/ Tenha havido em tão nobre país…”. “Outrora” fora um ano e meio antes, mas ninguém mais fazia questão de recordar.
Na realidade, nos primeiros anos da República pairava um verdadeiro “medo” de novas escravizações, ou da vigência de políticas raciais no país. Sobre os libertos recaía, portanto, um fardo pesado, condicionado pelos modelos deterministas de interpretação social e pela própria história. Foi por isso que ocorreu, então, uma reversão de expectativas, uma vez que a igualdade jurídica e social acabou sendo condicionada por novos critérios raciais, religiosos, étnicos e sexuais. Segundo a visão da época, a explicação para a falta de sucesso profissional ou social dos negros e mestiços estaria na biologia; ou melhor, na raça, e não numa história pregressa ou no passado imediato. Henrique Roxo, médico do Hospício Nacional, em pronunciamento no II Congresso Médico Latino-Americano de 1904 asseverava que negros e pardos deveriam ser considerados como “tipos que não evoluíram”; “ficaram retardatários”. Segundo ele, se cada povo carregava uma “tara hereditária”, no caso desses grupos ela era “pesadíssima”, levando à vadiagem, ao álcool e demais distúrbios mentais. O médico não deixava de incluir argumentos sociais, culpando a “transição bruscada”, assim como o crescimento desorganizado das cidades.
O fato é que o país continuava sendo representado como um gigante mestiço, que, nesse sentido, pedia cuidados. O Brasil foi o único país latino-americano a participar do I Congresso Internacional das Raças em julho de 1911, e enviou para Londres o então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, João Batista de Lacerda. Por lá, o cientista apresentou um artigo intitulado “Sur les Métis au Brésil”, com conclusões insofismáveis: “É lógico supor que na entrada do novo século os mestiços terão desaparecido no Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós”. O texto apostava, a partir de argumentos biológicos e sociais, num futuro branco e pacífico, com os negros e mestiços desaparecendo para dar lugar a uma civilização ordenada e crescentemente branqueada. Porém, a tese do cientista seria recebida de maneira pessimista no país, mas não pelos motivos que podemos imaginar. Ao contrário, julgava-se que um século era tempo demais para que o Brasil se tornasse definitivamente branco.
Também o antropólogo Roquette Pinto, presidente do I Congresso Brasileiro de Eugenia, ocorrido em 1929, previa um país cada vez mais branco: em 2012 teríamos uma população composta de 80% de brancos e 20% de mestiços; nenhum negro, nenhum índio. A entrada conjunta e maciça dessas escolas fez com que o debate pós-abolição fosse deslocado da questão jurídica do acesso à cidadania e igualdade, para argumentos retirados da biologia. A ciência naturalizava a história, e transformava hierarquias sociais em dados imutáveis. E o movimento era duplo: de um lado, destacava-se a inferioridade presente no componente negro e mestiço da população; de outro, tentava-se escamotear o passado escravocrata e sua influência na situação atual do país. Desenhava-se, assim, uma espécie de subcidadania, que mirava os habitantes dos sertões, mas também dos “cortiços”, tão bem descritos por Aluísio Azevedo, que, em 1890, publicou O cortiço, romance em que caracterizava tais aglomerados como verdadeiros barris de pólvora, não só por reunirem populações tão distintas — portugueses, espanhóis, ex-escravos, negros e mulatos livres — como por carregarem as mazelas dessa urbanização feita às pressas e às custas da expulsão de largos contingentes populacionais.
Os libertos conviviam, pois, com o preconceito do passado escravocrata, somado ao preconceito de raça. Não por acaso o escritor Lima Barreto afirmou em seus diários que no Brasil “a capacidade mental dos negros é discutida a priori, e a dos brancos, a posteriori”, e finalizou desabafando: “É triste não ser branco”. Após a Abolição, as populações de origem africana foram marcadas por um racismo silencioso, mas eficaz, expresso por uma leitura hierarquizada e criteriosa das cores. Imagens como o ócio e a preguiça se associaram rapidamente aos negros e mestiços, definidos como desorganizados social e moralmente. É por isso que a “liberdade era negra, mas a igualdade branca”. A igualdade e a cidadania eram ganhos das elites brancas e com acesso a voto, sendo que as populações que conheceram a escravidão deveriam se limitar a celebrar a liberdade do ir e vir. Bom exemplo seria o apego imediato à posse de certos objetos cuja proibição de uso simbolizava a própria ausência de liberdade. Conta o viajante Louis-Albert Gaffre que, logo depois da Abolição, negros e negras de posse de suas pequenas economias dirigiram-se às lojas de calçados; acessórios que lhes eram até então interditados. Contudo, se foi grande a procura desses ícones da liberdade, o resultado imediato se revelou decepcionante. Os pés outrora descalços, calejados, acostumados ao contato direto com o chão não aguentaram o uso de “tanta modernidade”. Por isso, testemunhas de época relatam ter observado nas ruas da cidade ou no campo negros carregando pares de calçado: não nos pés, mas apoiados nos ombros, como bolsa a tiracolo ou troféus. Liberdade, de toda forma, significava o arbítrio de poder comprar e usar o que se quisesse, e de ter nome e identidade.
Não obstante, o desfile de continuidades era maior que o de rupturas. Sobretudo nas áreas rurais, os libertos misturaram-se à população pobre; situação, aliás, que nada trazia de novidade. O que representava, sim, uma novidade era o nomadismo experimentado por essas populações, que agora evitavam estabelecer-se em endereço fixo. O que se sabe é que esse vasto segmento, formado também por caipiras, sertanejos e caboclos, habituara-se a desenvolver roças volantes e deslocar-se sazonalmente, atuando como vaqueiros, tangedores, domadores de cavalos, jornaleiros nas planícies do Sul do país ou na pecuária nordestina. Esse tipo de condição explicaria também o hábito da parcimônia nos bens e da recusa das criações animais. Trabalhadores negros se misturaram à população camponesa, aderiram ao modo de vida caipira e caboclo de São Paulo, tomaram parte na produção agrícola das fazendas de Minas Gerais, assim como atuaram na economia açucareira e na cultura do algodão do Nordeste. Evitavam vida sedentária e viviam em torno dos “mínimos vitais”: uma cultura dirigida para a produção dos pequenos excedentes, tanto comerciais como alimentares; uma sociabilidade construída na base das relações de vizinhança e das reuniões nos arraiais, vilas e bairros rurais.
Assim, se alguns sanitaristas apontavam a apatia e a degeneração dos mestiços, e reconheciam neles um Brasil doente, relatos de cronistas enalteciam agora o que chamavam de “um modo de vida puro e caipira”. É dessa época a contraposição entre o mestiço corrompido e a representação do Jeca Tatu, personagem criado pelo escritor Monteiro Lobato em 1914, no artigo “Urupês”, para o jornal O Estado de S. Paulo. O modelo original vinha do caipira da região do Vale do Paraíba, e o personagem se converteria numa das mais conhecidas caricaturas dos pobres rurais no imaginário dos brasileiros. Para Lobato, diante de problemas que vivenciava, como agregado, das grandes transformações na vida política, das secas intermitentes e da carestia constante, o caboclo permanecia alheio a qualquer mudança. Não por coincidência, nesse mesmo contexto, Rui Barbosa proferiu uma palestra utilizando-se da caricatura do Jeca. “Quem afinal seria o povo brasileiro?”, perguntava ele. Aquele caboclo agachado e cujo voto era trocado por uma bebida no bar ou um rolo de fumo, ou o senhor da elite, que lia em francês, fumava cigarros e ia aos teatros e óperas italianas?
Perguntas desse tipo ocuparam os debates políticos que antecederam o fim da Primeira República, em 1930, e representavam o outro lado dos projetos de modernização do país. Aí estava o Brasil das casas de pau a pique, na versão mineira; das cafuas na Chapada Diamantina; do mocambo nordestino; ou das palhoças dos ribeirinhos. Era nesses locais que se praticava uma sociabilidade cabocla, caracterizada pelos ritos de respeito, mas também pela violência. Ao largo de uma agricultura itinerante, produzia-se uma alimentação caipira, à base de mandioca, milho e feijão. Em dias especiais, galinha ou carne-seca misturadas com farinha, pirão, angu e paçoca. Cultuava-se igualmente uma religiosidade popular, que mesclava em doses generosas um catolicismo rústico com práticas retiradas de diversas tradições nacionais e também estrangeiras, onde ao sagrado se misturavam feitiços, quebrantos e preces. Aí estava o lado oposto de um mesmo país. O oposto do mesmo.
— Brasil by Lilia Moritz Schwarcz, Heloisa Murgel Starling (Page 342 - 345)