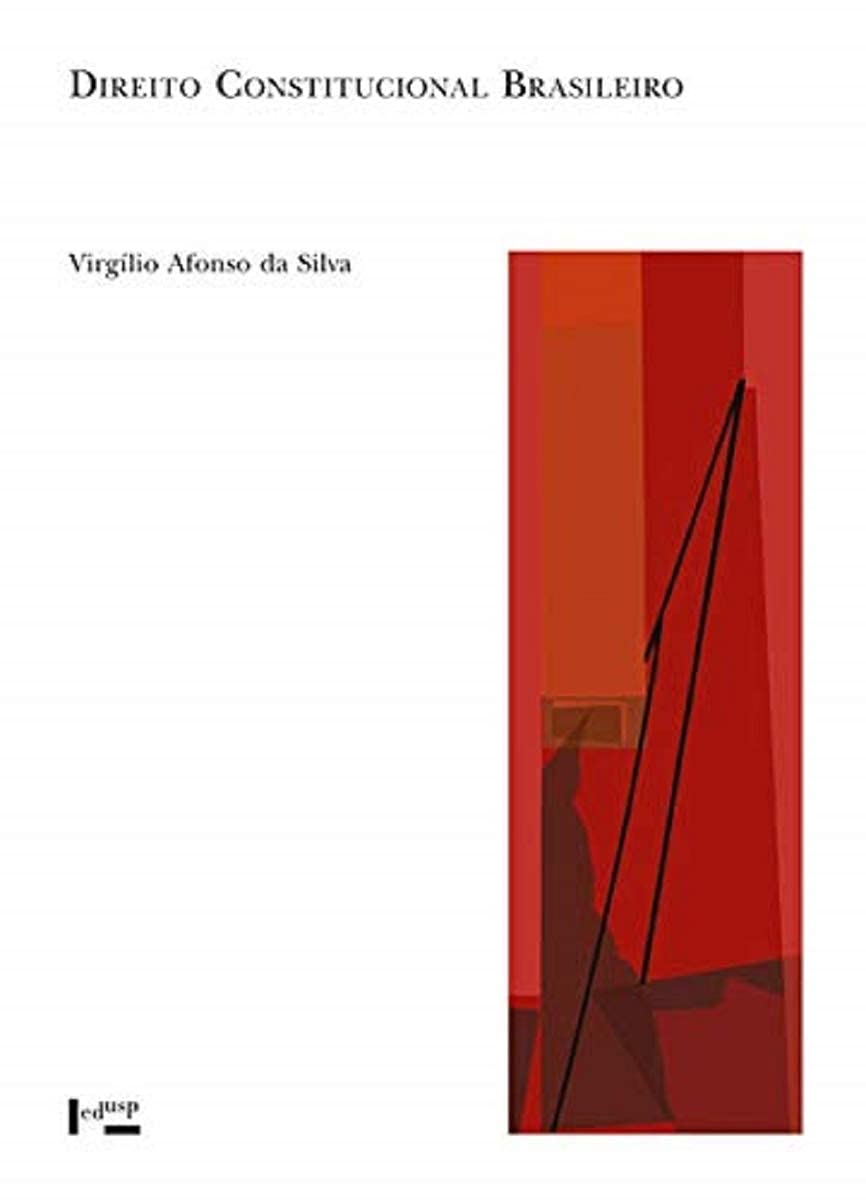Não é fácil traduzir nos termos da cultura jurídica ocidental a relação dos povos indígenas com suas terras, especialmente por meio do conceito de direito de propriedade. Dentre outras, essa é uma razão por que a Constituição de 1988 não confere aos indígenas a propriedade sobre essas terras. Ainda assim, é possível afirmar que elas pertencem aos indígenas, mesmo que sua propriedade esteja nas mãos da União. O que é crucial nesse âmbito é o reconhecimento de que a posse é permanente e que os indígenas têm usufruto exclusivo sobre elas, incluindo as riquezas do solo, os rios e os lagos.
A competência para demarcar as terras mencionadas no art. 231 é da União. Um dos pontos mais controversos nesse âmbito é o significado da expressão "terras tradicionalmente ocupadas", utilizada tanto no art. 231, § 1º, quanto no art. 20, X1. A realização do direito dos indígenas à terra depende em grande medida de uma definição sobre o significado dessa expressão. Na medida em que não é possível entendê-la como uma referência a uma ocupação imemorial, anterior à chegada dos portugueses, é necessário recorrer a outros critérios. Na decisão do caso Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal entendeu que "terras tradicionalmente ocupadas" significa "terras ocupadas em 5 de outubro de 1988. Segundo esse cri tério, as terras que devem ser consideradas como tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são aquelas que eram ocupadas no dia da promulgação da Constituição, E apenas essas terras podem ser demarcadas como pertencentes as comunidades indígenas. O relator da decisão recorreu a uma metáfora, segundo a qual o critério temporal funcionaria como uma "radiografia" da ocupação de terras por indígenas, feita em 5 de outubro de 1988, e essa "radiografia" deveria ser considerada como o critério definitivo para a demarcação de terras. Desde então, o STF tem tomado decisões baseadas nesse critério, chamado de marco temporal, e anulado demarcações feitas pela União
O critério do marco temporal de 5 de outubro de 1988 é problemático por pelo menos quatro razões: (1) porque a Constituição não prevê a utilização desse critério; (2) porque o fato de que uma comunidade indígena tenha ocupado uma terra naquela data não significa que a tenha tradicionalmente ocupado; é possível que essa comunidade tenha tradicionalmente ocupado outras terras e tenha sido forçada a deslocar-se para um local distinto, onde se encontrava em 5 de outubro de 1988; (3) porque, se a Constituição de 1988 pode ser considerada um momento de inflexão no tratamento dos direitos indígenas, uma "radiografia" feita na data de sua promulgação reflete o passado, e esse passado muitas vezes significou deslocamentos forçados (patrocinados oficialmente pelo Estado brasileiro ou por grandes proprietários de terra e garimpeiros); e, em consequência, (4) porque fazer uma "radiografia" do passado para definir demarcações no presente e no futuro é simplesmente incompatível com uma constituição que pretende transformar a realidade, não manter o status quo.
A despeito disso, o STF argumenta que apenas uma exceção ao marco temporal de 5 de outubro 1988 seria aceitável: se uma comunidade indígena tiver sido forçada a se deslocar antes dessa data, mas tivesse resistido e continuasse a resistir quando da promulgação da Constituição. Mas, para que essa exceção seja aceita, a comunidade indígena teria que demonstrar a resistência, seja por meio de evidências factuais, seja por meio de ajuizamento de ação judicial antes daquela data e que estivesse pendente quando da promulgação da Constituição.
Contra essa interpretação majoritária do STF, há quem argumente que não é razoável exigir que a demonstração da existência de um conflito sobre terras indígenas dependa de ajuizamento de ação judicial, porque isso implicaria "interpretar o comportamento das comunidades indígenas à luz dos nossos costumes e instituições e que o critério do marco temporal, definido na decisão de mérito no caso Raposa Serra do Sol, não deve ser considerado um critério universal a ser replicado em todos os casos e controvérsias".
— Direito Constitucional Brasileiro by Virgílio Afonso Da Silva (Page 343 - 345)