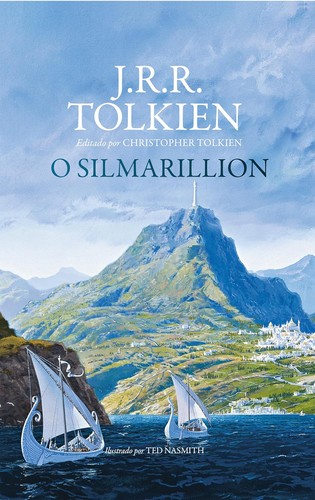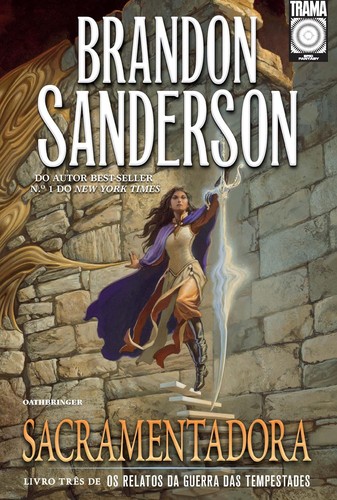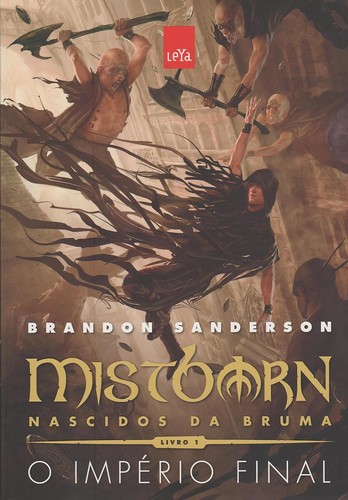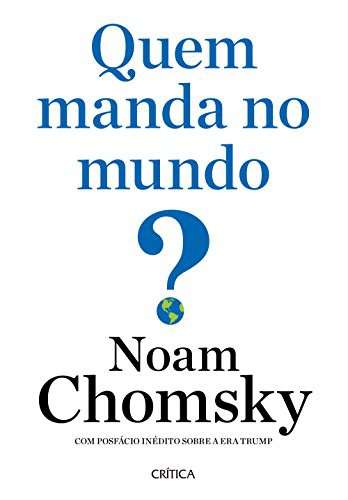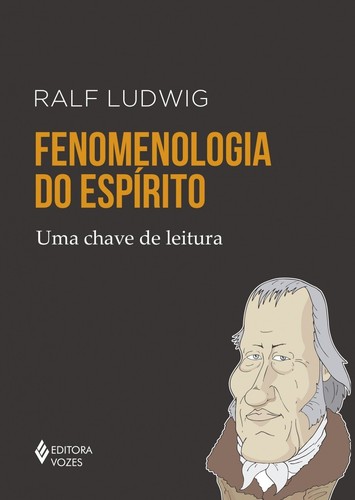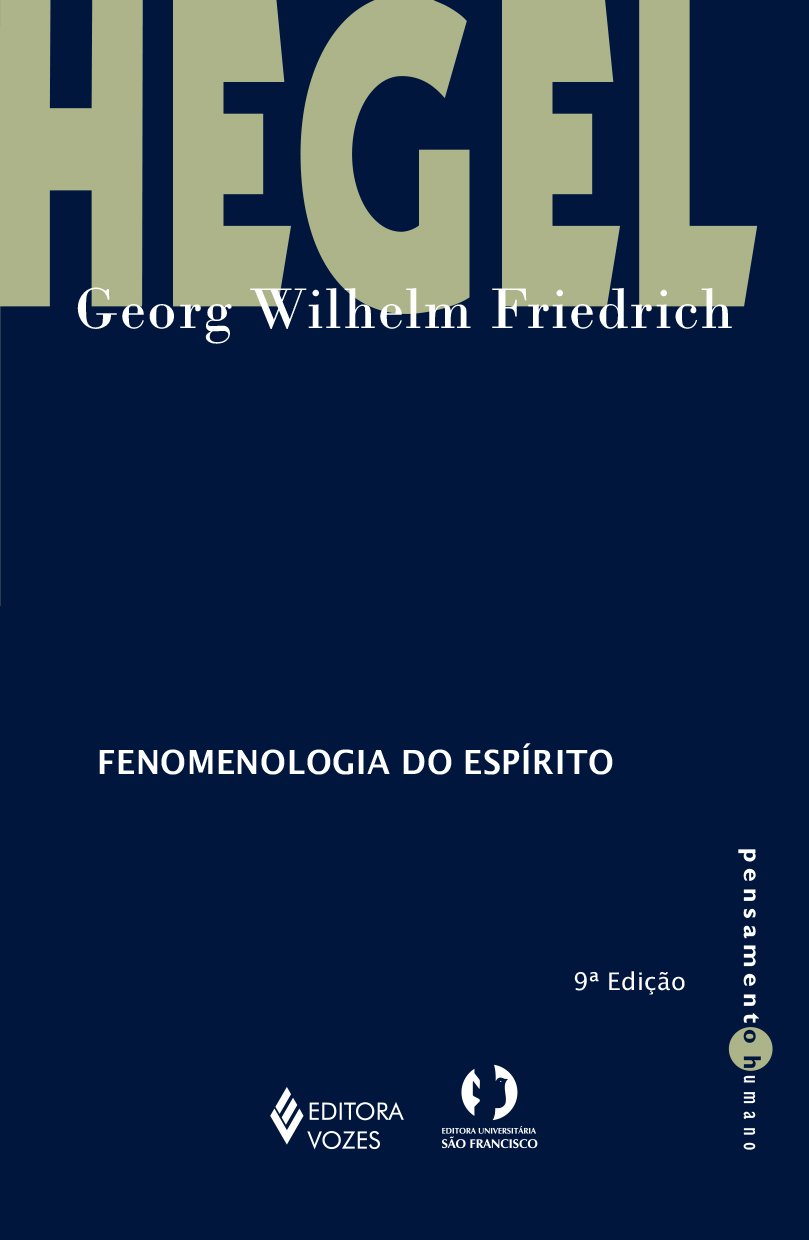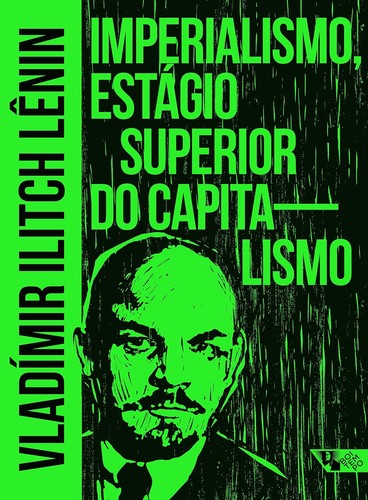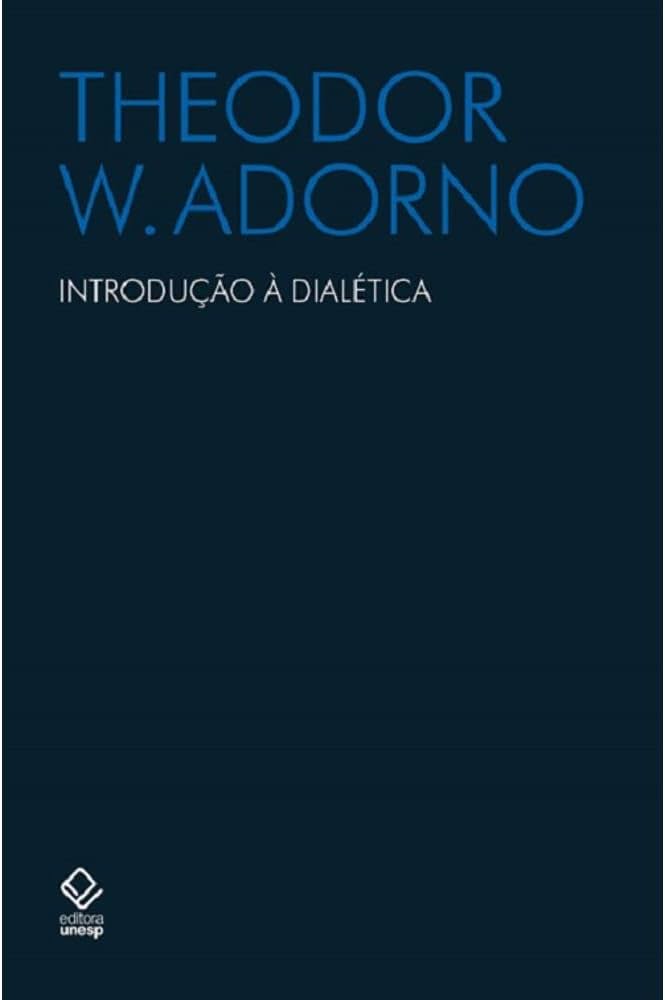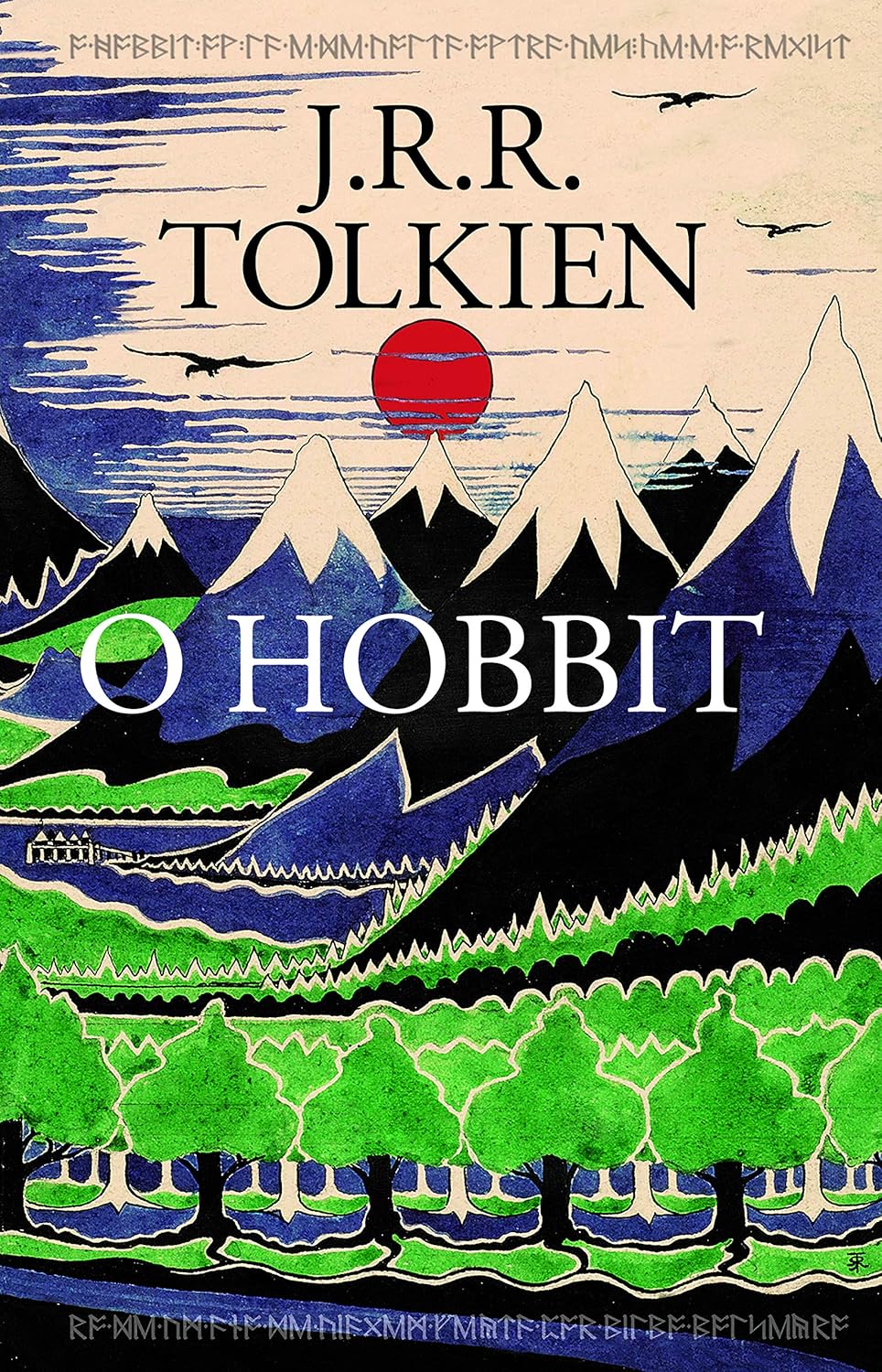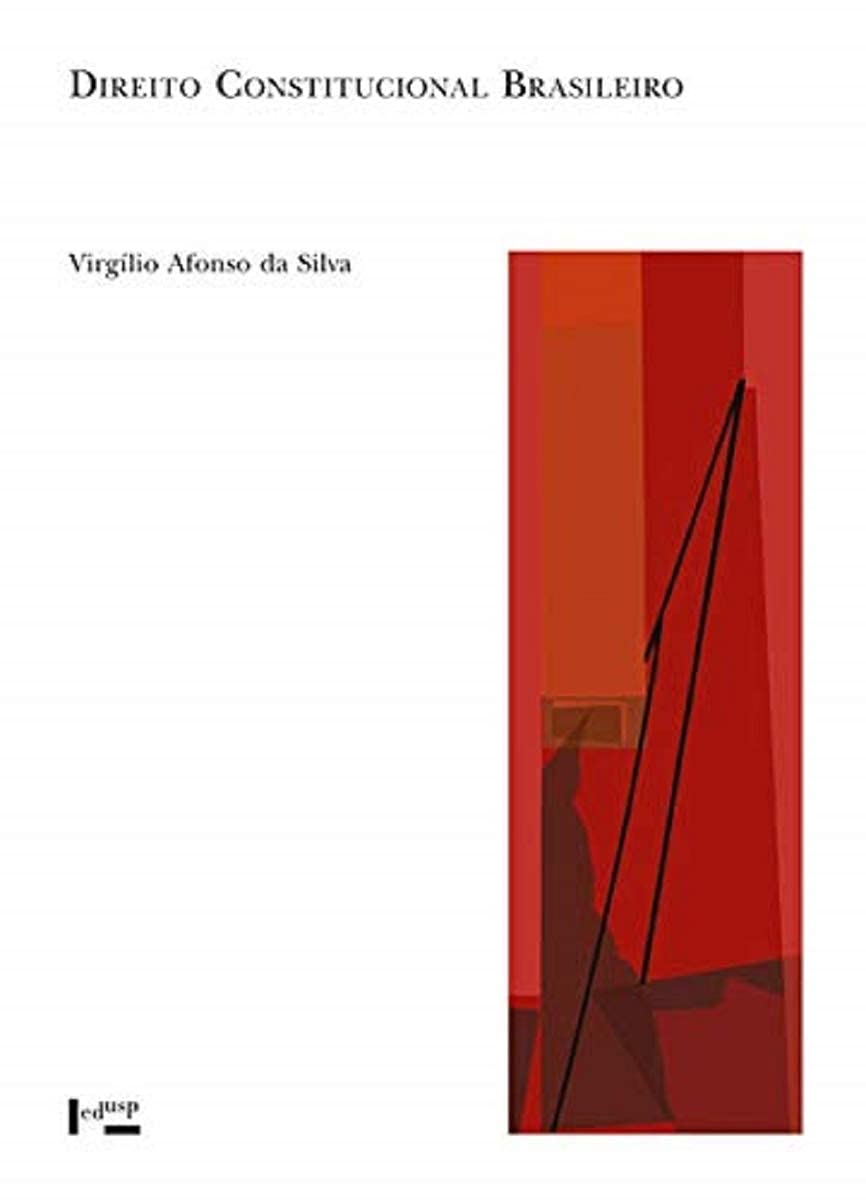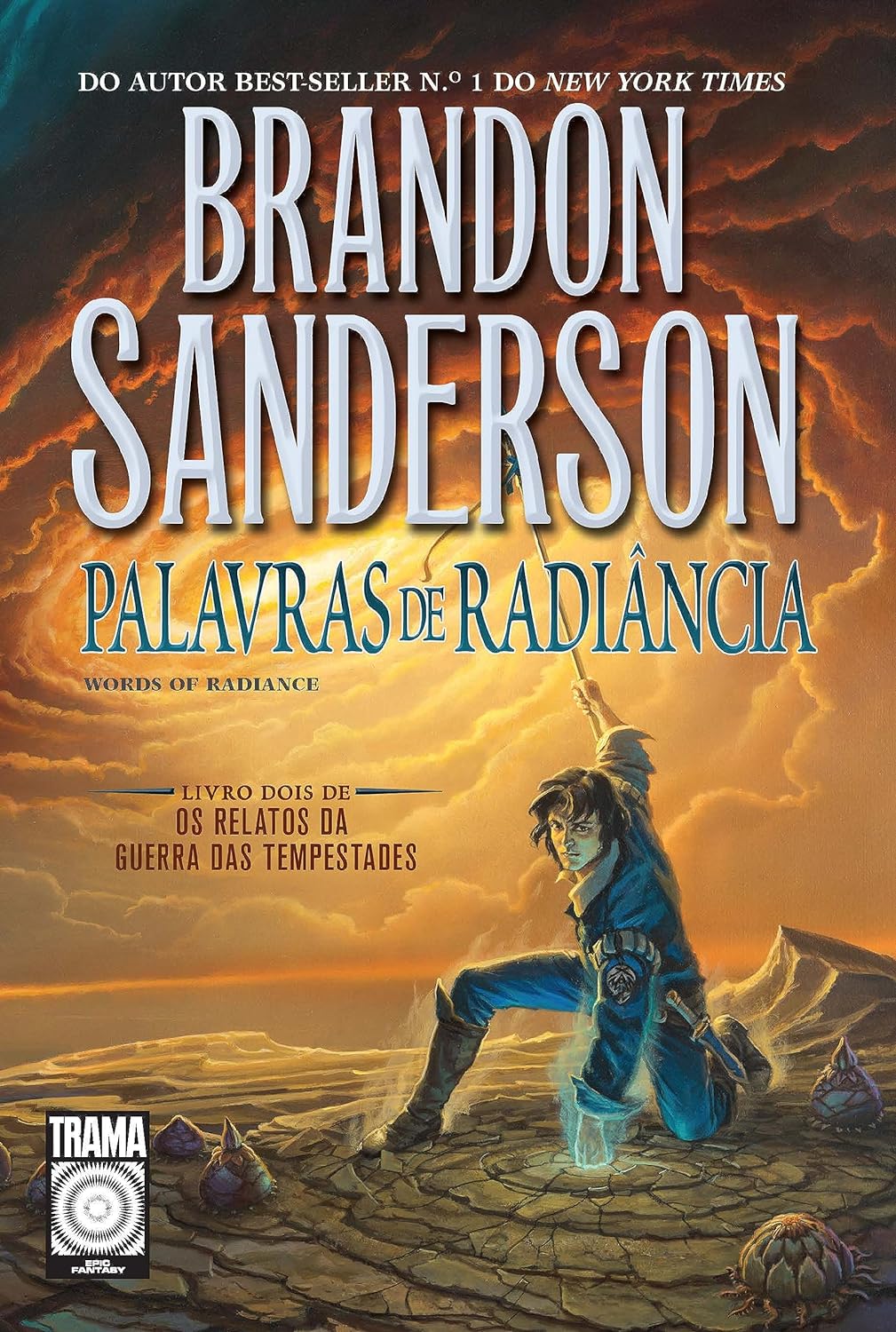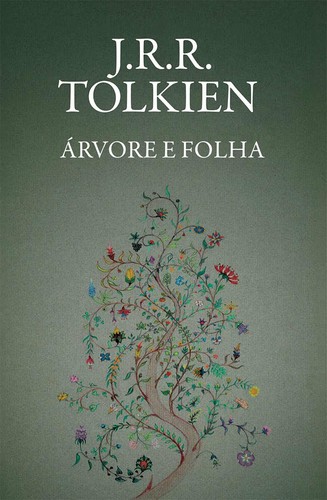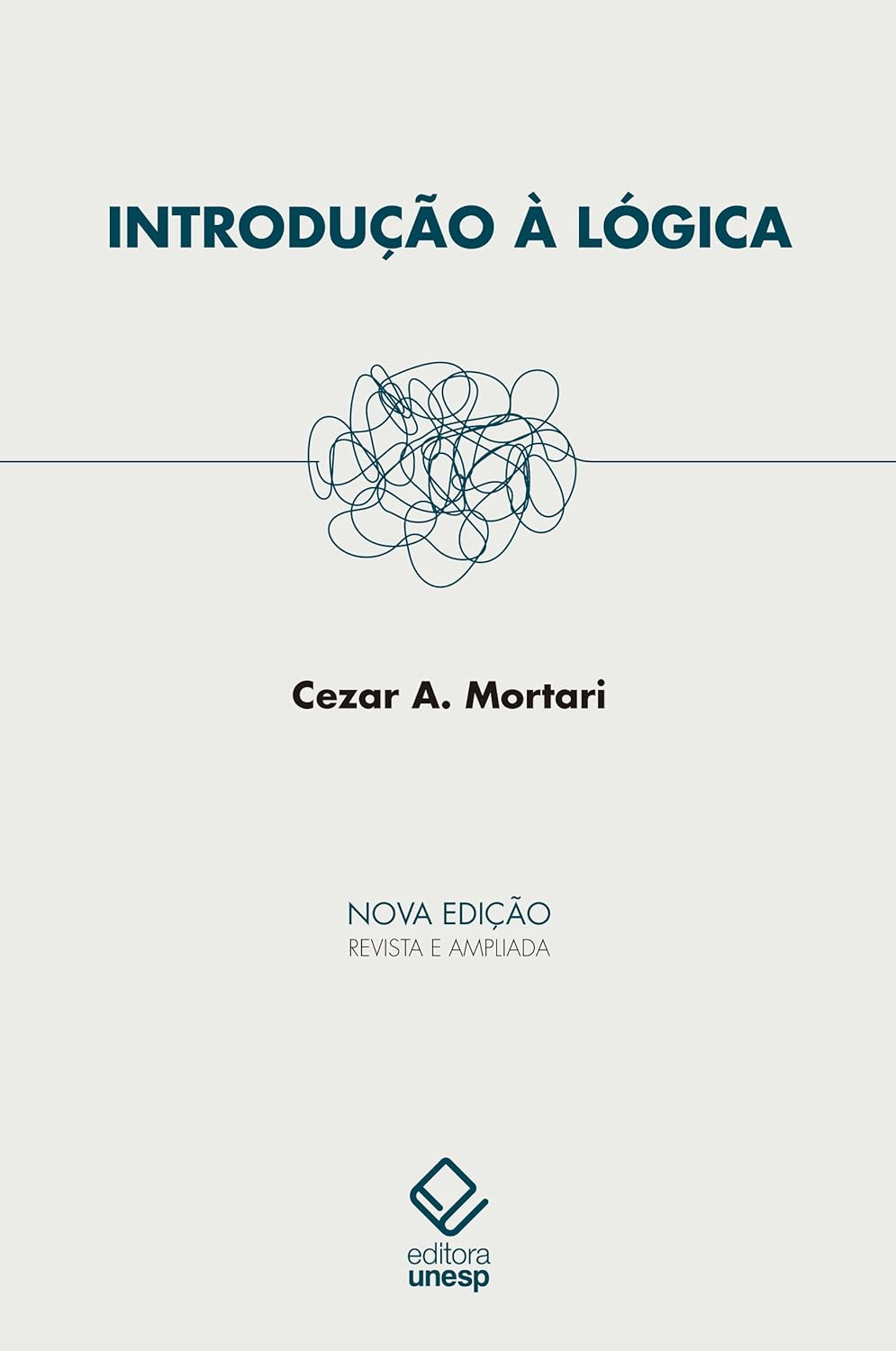9.2 Proposições categóricas
No restante deste capítulo, vamos ver alguns exemplos mais complicados de como traduzir, para a linguagem do CQC, sentenças que envolvem quantificação. Alguns desses exemplos, clássicos na história da lógica, dizem respeito às proposições (ou sentenças) categóricas, da teoria do silogismo de Aristóteles. As proposições categóricas são aquelas que correspondem a uma das quatro formas básicas seguintes:
Todo A é B (universal afirmativa)
Nenhum A é B (universal negativa)
Algum A é B (particular afirmativa)
Algum A não é B (particular negativa)
em que as letras A e B funcionam como variáveis para expressões que especificam classes ou propriedades, como ‘homem’, ‘gato’, ‘mamífero aquático’, ‘dono de restaurante que mora no Canto da Lagoa’ etc. Como tais proposições são o material de que os silogismos são construídos, e como a teoria do silogismo era considerada a lógica até meados do século passado, seria interessante ver como dar conta delas usando a linguagem do CQC.2
A propósito, há várias maneiras em português de expressar uma proposição categórica. Por exemplo, no caso de uma universal afirmativa, como ‘Todo gato é mamífero’, poderíamos dizer também ‘Todos os gatos são mamíferos’, ‘Os gatos são mamíferos’, ‘Gatos são sempre mamíferos’, ‘Somente (só, apenas) os mamíferos são gatos’, ‘Se algo é um gato, então é um mamífero’ etc.
Você pode estar se perguntando se não houve um erro a respeito de uma das variações dadas. ‘Somente os mamíferos são gatos’ diz a mesma coisa que ‘todos os gatos são mamíferos’? É isso mesmo?
É isso mesmo. Veja, há uma diferença entre dizer que somente os mamíferos são gatos e que todos os mamíferos são gatos, concorda? A segunda afirmação é falsa, pois nem todos os mamíferos são gatos (há os morcegos e ornitorrincos, por exemplo). Por outro lado, que dizer de ‘somente os mamíferos são gatos’? Parafraseando isso, chegamos a algo como ‘não existe algo que não seja mamífero, mas que seja um gato’. Ou seja, se algo é um gato, tem que ser um mamífero. Ou seja, mais uma vez, todo gato é um mamífero.
Variações estilísticas semelhantes são também possíveis para os outros tipos de proposição categórica. No caso de universais negativas, como ‘nenhum gato é um réptil’, as variações são em menor número. Podemos dizer também que ‘não há gatos que sejam répteis’, ‘se algo é um gato, então não é um réptil’, e assim por diante.
Falando agora de particulares afirmativas, já vimos as variantes com ‘algum’ e ‘alguns’. Em português, ao usar ‘alguns’ — como em ‘alguns gatos são pretos’ — damos a impressão de que há mais de um gato que é preto, o que pareceria não estar implicado por ‘algum gato é preto’. Nossa leitura, porém, é de que, tanto com ‘algum’ quanto com ‘alguns’, estamos dizendo que ‘há pelo menos um’, ‘existe pelo menos um gato que é preto’. Isso é verdade se há um gato, se há dois, se há duzentos...
Finalmente, as particulares negativas. Além das versões com ‘algum’ e ‘alguns’, temos também uma outra, usando o quantificador ‘nem todo’ (ou ‘nem todos’). Ao dizer que nem todo gato é preto, o que queremos afirmar? Ora, que não é verdade que todos os gatos sejam pretos. E o que é preciso que isso seja o caso? Pensando bem... que haja pelo menos um gato não preto, certo? Isto é, que algum gato não seja preto. Ou seja, temos uma particular negativa.
Vamos, então, começar a traduzir proposições categóricas para a nossa linguagem artificial, começando pelas particulares afirmativas. Por exemplo, digamos que queremos formalizar a sentença ‘alguns peixes são azuis’ — ou, de modo equivalente em português, ‘algum peixe é azul’, ou ‘alguma coisa é um peixe azul’. Bem, se quiséssemos formalizar ‘Cleo é um peixe azul’, teríamos, como você recorda do capítulo anterior,
Pc∧Ac
(já tendo eliminado os parênteses externos). Mas como ficaria, então, ‘alguns peixes são azuis’? Obviamente, temos que utilizar variáveis e o quantificador existencial. Parafraseando a sentença em questão, temos algo assim:
Há ao menos um x que é um peixe e é azul,
ou seja,
Há ao menos um x tal que: x é um peixe e x é azul.
O resultado final, portanto, é
∃x(Px∧Ax),
que diz que existe ao menos um x que tem as duas propriedades: ser peixe e ser azul.
Note que, na fórmula mencionada, os parênteses não podem ser esquecidos! Você ainda recorda a distinção entre, digamos, ¬Pc∧Ac e ¬(Pc∧Ac)? No primeiro caso, temos uma conjunção; no segundo, a negação de uma conjunção. Assim, se escrevermos
∃xPx∧Ax,
apenas a variável em Px está sendo quantificada; a ocorrência de x em Ax está fora do escopo do quantificador e, portanto, livre.
Se quiséssemos, agora, formalizar a sentença a seguir:
(5) Algo é um cachorro, e algo é um peixe,
teríamos
(6) ∃xCx∧∃xPx.
Note, primeiro, que a sentença (5) não é categórica. Depois, as duas ocorrências de ∃x anteriores são completamente independentes: de um lado estamos afirmando que alguma coisa é um cachorro, ∃xCx, enquanto, de outro, afirmamos que algo é um peixe: ∃xPx. E esses indivíduos podem ser (no caso de peixes e cachorros, certamente são) distintos. Observe que a fórmula anterior é diferente de
∃x(Cx∧Px).
Esta, sim, diz que há um indivíduo que tem as duas propriedades: a de ser um cachorro e a de ser um peixe, o que, no mundo real, não é verdade. Se quiser enfatizar a possibilidade de que os indivíduos sejam distintos, você poderia ter formalizado a sentença (5) por meio de
∃xCx∧∃yPy,
mas isso não altera muita coisa, uma vez que as duas fórmulas são equivalentes. Como eu disse, as duas ocorrências de ∃x em (6) são independentes uma da outra, e tanto faz que variável você utilize — o uso de variáveis distintas não quer dizer que haja dois indivíduos diferentes envolvidos na história.
Vejamos agora um exemplo de uma proposição categórica do tipo particular negativa, como ‘algum pinguim não mora na Antártida’. O que queremos dizer com isso é que existe pelo menos um indivíduo que tem a propriedade de ser um pinguim, mas que não tem a propriedade de morar na Antártida. Parafraseando isso, temos:
Há pelo menos um x tal que: x é um pinguim e x não mora na Antártida.
Ou seja, usando P para ‘x é um pinguim’, e A para ‘x mora na Antártida’:
∃x(Px∧¬Ax).
Mas nem todas as expressões que representam classes nas proposições categóricas precisam ser propriedades simples como ‘x é um peixe’. Podemos ter coisas mais complexas, envolvendo vários símbolos de predicado. Digamos que pretendemos formalizar a sentença ‘algum pinguim que mora na Antártida não gosta de frio’. Isso é um outro exemplo de uma particular negativa: Algum A (um pinguim que mora na Antártida) não é B (um indivíduo que gosta de frio). Ou seja:
Algum [pinguim que mora na Antártida] não é [um indivíduo que gosta de frio].
Usando F para ‘x gosta de frio’, temos, então:
∃x((Px∧Ax)∧¬Fx).
Vamos agora examinar alguns exemplos com o quantificador universal, começando com uma universal afirmativa como ‘todo peixe é azul’. Tentemos fazer uma paráfrase dessa sentença. Podemos começar com ‘Qualquer peixe é azul’, ou ‘qualquer coisa que seja um peixe azul’, ou ‘para qualquer coisa, é verdade que, se essa coisa é um peixe, então é azul’.
Essa última paráfrase já nos coloca mais próximos do que desejamos. Note que apareceu nela um operador, o nosso ‘se ... então ...’. Assim, nossa paráfrase ficará mais ou menos como segue, substituindo ‘essa coisa’ por x:
Para qualquer x, se x é um peixe, então x é azul.
Isso corresponde a
∀x(x eˊ peixe →x eˊ azul),
que é imediatamente formalizável da seguinte maneira:
∀x(Px→Ax).
Note, portanto, que na estrutura da sentença ‘todo peixe é azul’ está escondida uma implicação.
Obviamente, não podemos formalizar a sentença ‘todo peixe é azul’ com
∀x(Px∧Ax).
Essa fórmula, na verdade, está dizendo que
qualquer que seja o indivíduo x, x é um peixe e x é azul,
ou seja, que todos os indivíduos do universo têm as duas propriedades: de ser peixe e ser azul. Isso só é verdade, claro, num universo de peixes azuis — isto é, num universo onde todos os indivíduos, sem exceção, são peixes azuis. Contudo, não é isso que a sentença original afirmava. Você percebe a diferença entre ‘Todos são peixes azuis’ e ‘Todos os peixes são azuis’? O segundo caso significa dizer que, para qualquer x, vale o seguinte: se ele for peixe, então é azul. Mas um certo x pode, claro, não ser um peixe e ter outra cor.
De modo análogo, uma sentença como ‘nenhum peixe é azul’ pode ser parafraseada como ‘se algo é um peixe, então não é azul’, e podemos formalizar isso assim:
∀x(Px→¬Ax).
Ou seja: para qualquer x, se x é um peixe, então x não é azul. Alternativamente, poderíamos usar
¬∃x(Px∧Ax),
ou seja, não existe algo que seja um peixe azul.
Na teoria clássica do silogismo, letras como A e B serviam para propriedades. Mas como o CQC também nos permite trabalhar com relações, sentenças que as envolvem também podem ser formalizadas. Por exemplo,
Todos os filhos de João são estudantes.
Essa sentença tem a mesma forma de uma universal afirmativa; veja:
Todo [filho de João] é [estudante].
Se começarmos a formalizar isso, teremos
∀x(x eˊ filho de Joa˜o →x eˊ estudante).
Precisamos, agora, apenas de uma constante individual e de constantes de predicado. Por exemplo, j para João, F para ‘x é filho de y’ e E para ‘x é estudante’. Assim:
∀x(Fxj→Ex).
Considere agora um exemplo mais complicado:
Nenhum filho adolescente de João é estudante.
Essa sentença tem a forma ‘Nenhum A é B’, uma universal negativa:
Nenhum [filho adolescente de João] é [estudante].
Como um início de formalização, temos:
∀x(x eˊ filho adolescente de Joa˜o →¬x eˊ estudante).
Ou seja:
∀x((x eˊ filho de Joa˜o ∧x eˊ adolescente)→¬x eˊ estudante).
E, usando A para ‘x é adolescente’, temos, finalmente:
∀x((Fxj∧Ax)→¬Ex).
Como você vê, muitas sentenças de estrutura mais complexa podem ser reduzidas a uma das quatro formas básicas de proposição categórica. O quadro seguinte resume o que vimos até agora:
Todo A é B ∀x(Ax→Bx)
Nenhum A é B ∀x(Ax→¬Bx)
Algum A é B ∃x(Ax∧Bx)
Algum A não é B ∃x(Ax∧¬Bx)