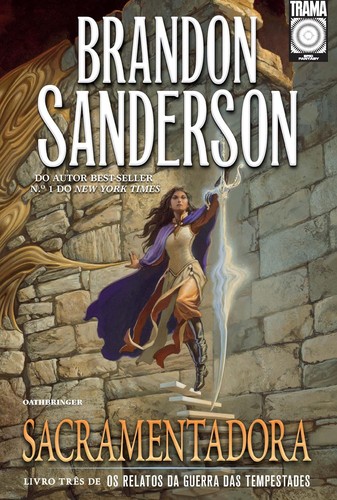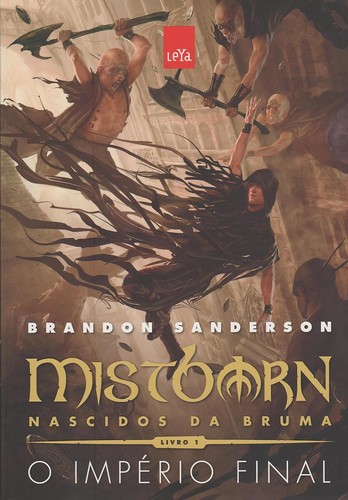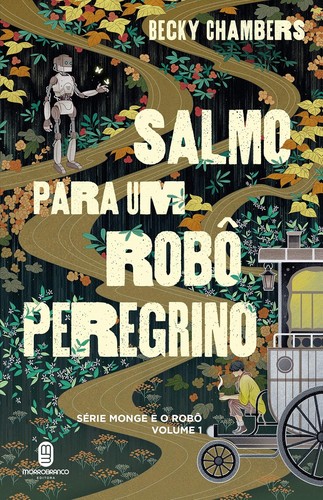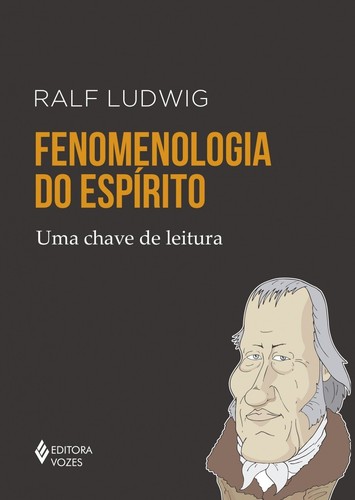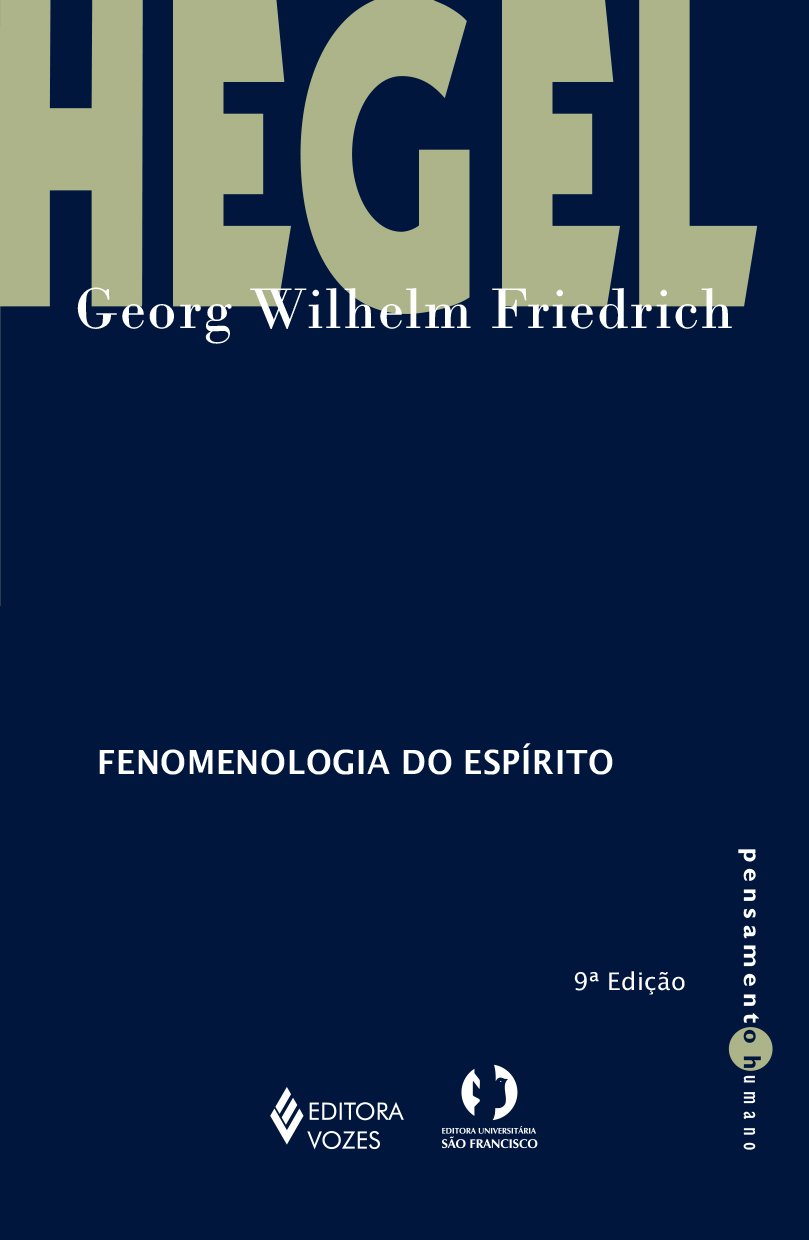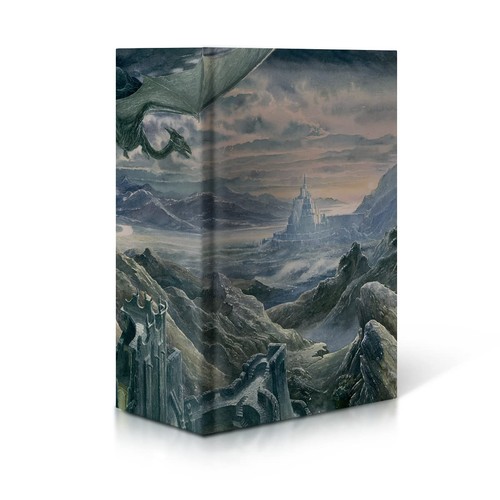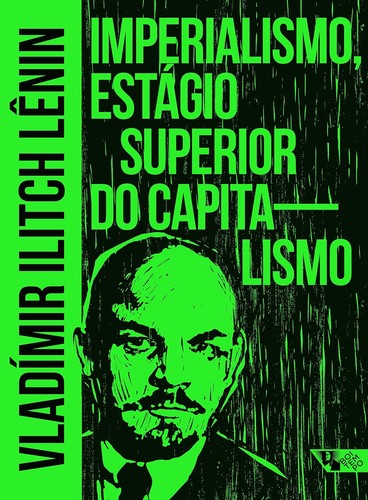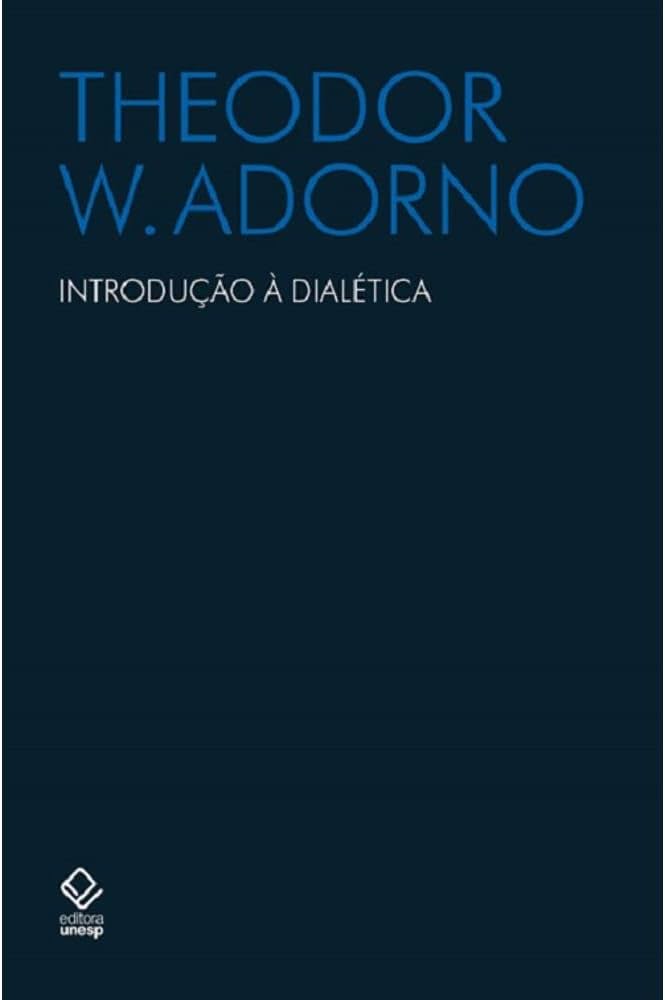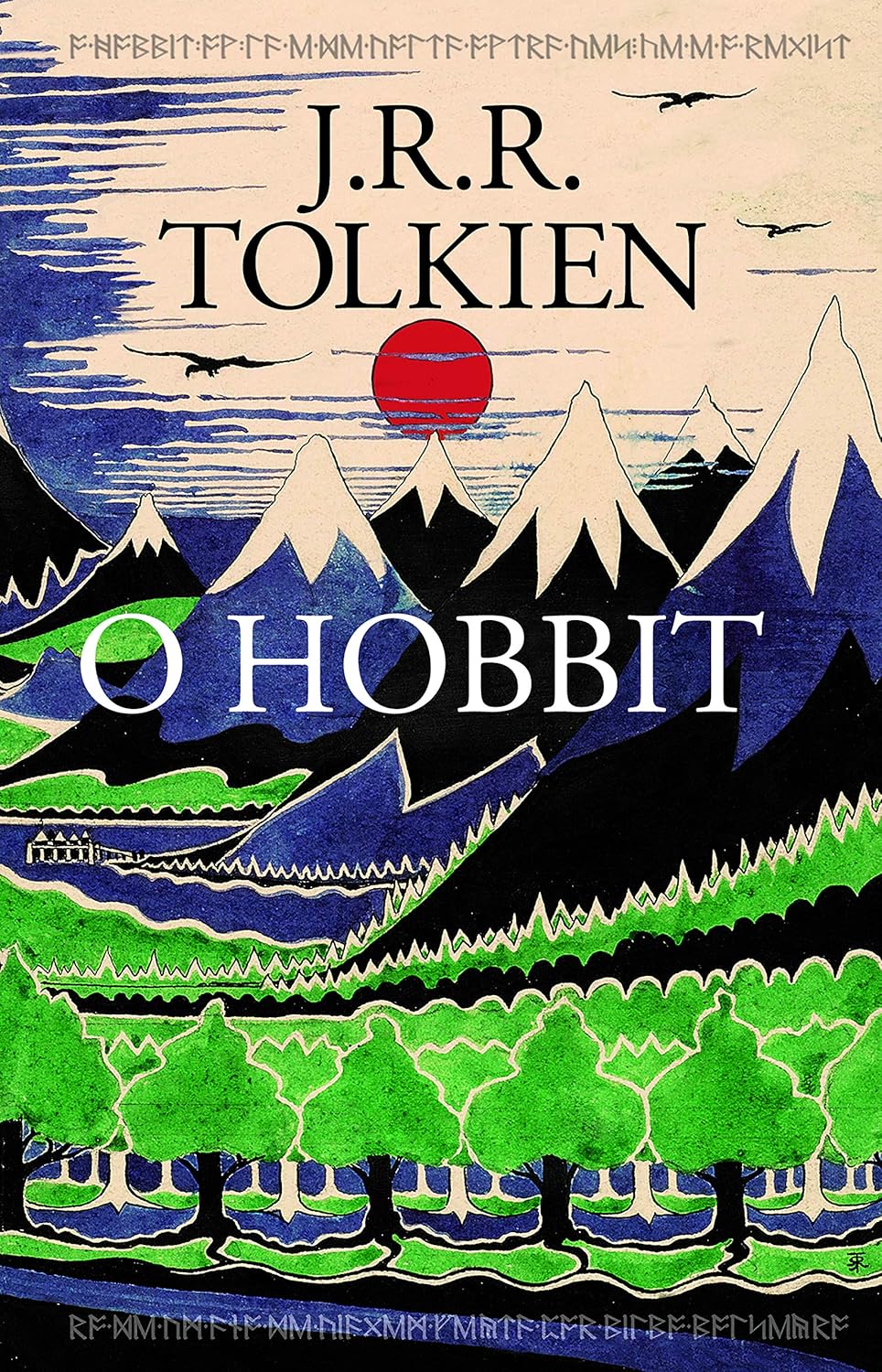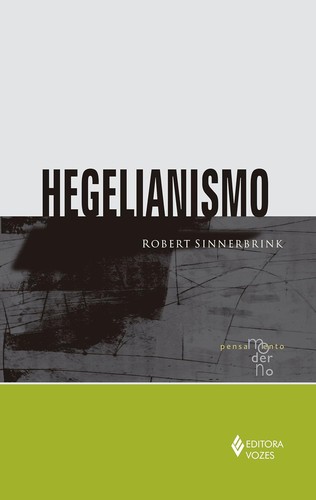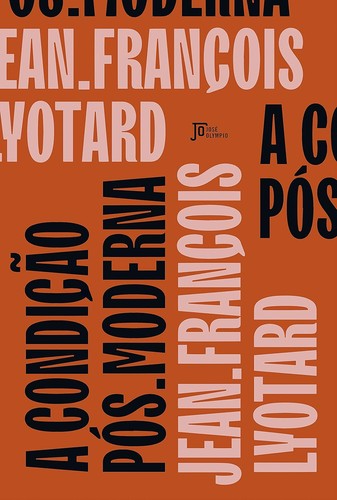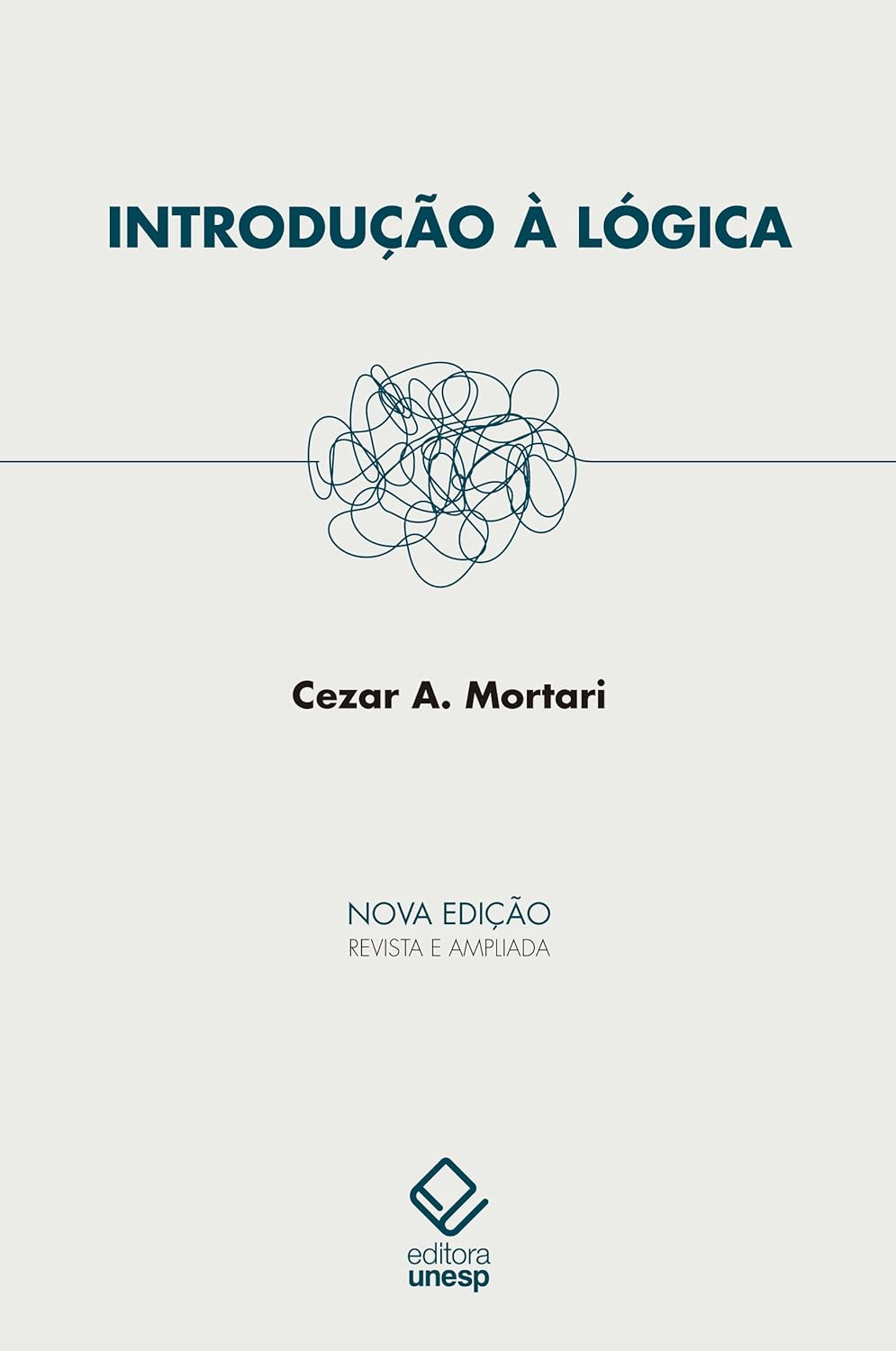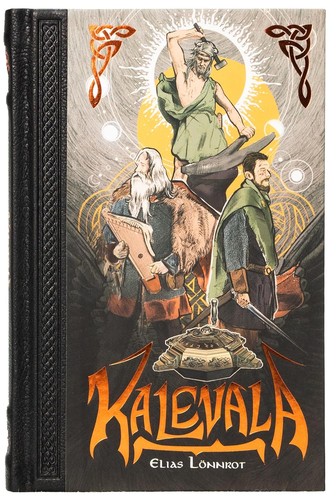A dialética de Hegel da consciência independente e dependente, como é chamada, é uma descrição de várias concepções inadequadas de liberdade. Ela emerge da experiência do desejo, do fato de que a nossa primeira experiência de autoconsciência, por assim dizer, se dá como seres vivos, desejantes imersos em um ambiente natural. Ao satisfazermos nossos desejos animais obtemos uma sensação fugaz de autoidentidade, por enquanto o nosso desejo (por comida, bebida, sexo) é satisfeito, desaparece, apenas para voltar e exigir ainda mais satisfação. Ao incorporar a mim um objeto desejado, eu ganho uma sensação temporária e instável da minha autoidentidade, que é interrompida assim que estou mais uma vez nas garras do desejo por outro objeto. Embora haja tradicionalmente um número de respostas morais e éticas para o problema de controlar o desejo (epicurismo, estoicismo, e assim por diante), Hegel vai argumentar que é apenas desejando reconhecimento de outro sujeito vivo, desejante que podemos ganhar satisfação genuína e uma sensação duradoura de autoidentidade.
No “estado de natureza” de Hegel, no entanto, a primeira experiência de protossujeitos desejantes (“protossujeitos” porque estamos lidando com pré-racionais, seres não-ainda-autônomos) é de conflito, até mesmo violência. Cada sujeito desejante tenta asseverar sua independência e autoidentidade negando o outro sujeito desejante; o resultado é uma “luta de vida ou morte” na qual cada protossujeito procura destruir o outro. Mas atingir esse alvo (destruir o outro sujeito) seria autodestrutivo, uma vitória sobre um cadáver, em vez de reconhecimento de um ser vivo. Assim, um dos protagonistas da luta deve capitular, renunciando a sua independência e se submetendo à vontade do outro; o outro consegue, assim, ter a sua independência reconhecida, ainda que sob coação. O protagonista vitorioso, que arriscou sua vida a fim de provar sua independência, se torna o senhor, enquanto a parte vencida, que permaneceu “amarrada” à mera vida, se torna o escravo, a consciência dependente que reconhece apenas a vontade do senhor.
Aqui é onde as famosas “reversões dialéticas” de Hegel entram em jogo. A vitória do senhor é oca, porque ele é de fato dependente do escravo, que trabalha para o senhor, a fim de que o senhor possa satisfazer os seus desejos. O senhor extorquiu reconhecimento da sua independência de um ser totalmente dependente, reduzido ao status desumanizado de uma “ferramenta viva” (Aristóteles). O escravo, por contraste, passará a ser “senhor do senhor”, por assim dizer, pois o escravo experimentou os seus próprios limites, sua finitude (ao encontrar a ameaça de morte), o poder que nega todos os seus atributos; ele está, portanto, negativamente consciente dos seus limites mortais e da sua capacidade de liberdade. O escravo, portanto, escolhe a vida, refreia o seu desejo, aprende a autodisciplina, desenvolve suas habilidades e competências ao trabalhar para o senhor, e, lentamente, vem a reconhecer o seu poder de transformar o mundo objetivo através do trabalho ou do labor coletivo. No longo prazo, sugere Hegel, o escravo vai chegar a uma concepção mais verdadeira de liberdade, reconhecendo a interconexão entre dependência e independência, e desenvolver um senso de autoidentidade através do trabalho e da contribuição para a comunidade social.
No entanto, tanto o senhor quanto o escravo permanecem trancados em uma relação infeliz de dominação: o senhor não pode ganhar reconhecimento de sua independência, pois o escravo permanece um ser dependente. O escravo, enquanto isso, permanece escravizado ao mestre e tem negado o reconhecimento adequado da sua humanidade e liberdade. Na verdade, a experiência de domínio e escravidão ensina à consciência que não só a vida, mas a liberdade lhe é essencial. A questão agora é como esta liberdade deve ser entendida e realizada, questão abordada na próxima configuração da autoconsciência, que Hegel chama de “consciência infeliz”. Esta é a experiência do sujeito alienado, e de suas várias tentativas de lidar com as consequências de uma concepção inadequada de liberdade.
Na sequência da dialética do senhor e do escravo, a primeira estratégia é encontrar a liberdade no pensamento puro, uma estratégia evidente no estoicismo: posso estar escravizado na realidade, mas a minha mente racional permanece livre e universal, mesmo embora o meu ego empírico (e talvez também o meu corpo) esteja alienado e dominado. Esta é uma apresentação bastante estilizada do estoicismo, que, de modo geral, defendia o desprendimento das formas excessivas de paixão através do exercício da razão e do autocontrole racional. No entanto, Hegel enfatiza a centralidade do pensamento racional livre em sua explicação, e até mesmo argumenta que o estoicismo afinal só pode oferecer truísmos e platitudes que por fim resultam em tédio! Por isso, a estratégia seguinte consiste em radicalizar essa liberdade de pensamento, voltando-a contra todas as pretensões de conhecimento. Este é o ceticismo como a liberdade de pensamento puro, que nega todas as pretensões de conhecimento em nome da liberdade radical do sujeito pensante racional. No entanto, este sujeito pensante permanece um ser encarnado, vivo, desejante, existindo em um mundo social com outros. Pode-se ser realmente cético apenas em teoria, pois agir no mundo exige que assumamos a verdade desses mesmos conceitos rejeitados em nome da dúvida cética.
Uma vez que o sujeito se torna consciente da sua separação em um eu pensante radicalmente livre e um eu empírico sem liberdade, torna-se uma “consciência infeliz”. Este é o sujeito alienado, religioso, que luta contra a sua própria autocontradição interna (como divino e profano), e se empenha em vão em unir estas dimensões universal e particular da individualidade. O aspecto universal é projetado para fora, em uma essência imutável eterna (Deus), enquanto o aspecto particular permanece vinculado ao corpo, aos sentidos e ao ego degradado do indivíduo. A consciência infeliz embarca, assim, em tentativas cada vez mais radicais de unir os aspectos imutáveis e particulares de sua subjetividade alienada, primeiro através da devoção religiosa, então no desempenho de boas obras, e, finalmente, através de uma absoluta abnegação de si. Mas a consciência infeliz só pode superar o agravamento da sua alienação uma vez que se dê conta de não poder unificar à força o aspecto universal da sua individualidade e a sua experiência corporal particular. Em vez disso, o universal e o particular são dimensões contrastantes da autoconsciência, que afinal estarão unidas no indivíduo racional encarnado. Minha subjetividade racional é sempre mediada pelas minhas relações com os outros, pelo fato de ser reconhecido dentro de um contexto intersubjetivo de interações racionais. Este é o momento em que a autoconsciência começa a se transformar em razão, na unidade racional de universal e particular, no sujeito consciente de si mesmo ao ser consciente de sua universalidade. O que está à frente da razão autoconsciente são as experiências conflitantes da razão teórica e prática, uma dicotomia que é superada apenas na mais complexa unidade-na-diferença do “espírito”: “o Nós que é Eu e o Eu que é Nós” (PhS, § 177), a unidade intersubjetiva que é a verdadeira natureza da liberdade realizada.