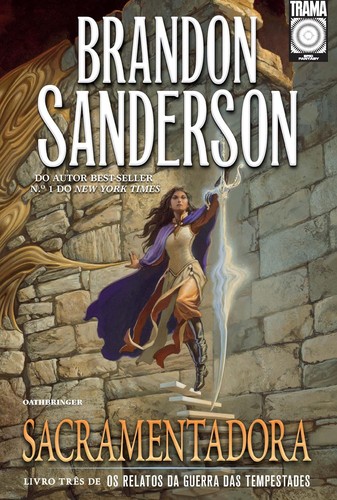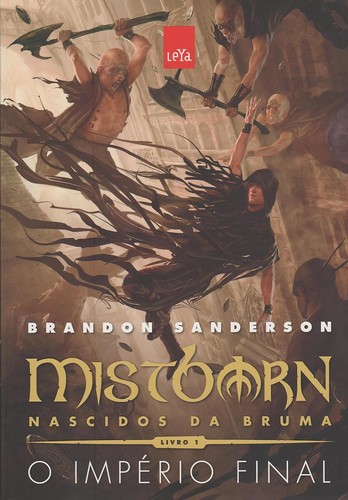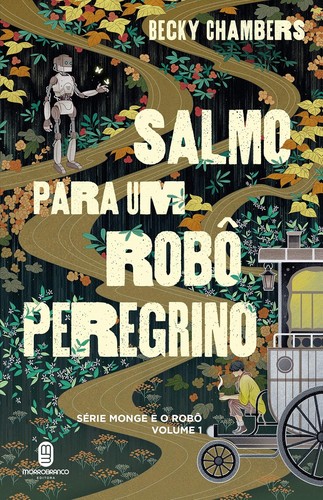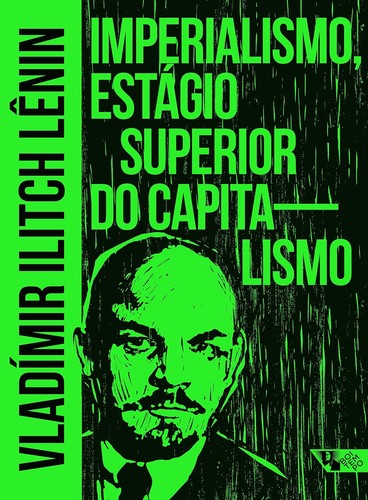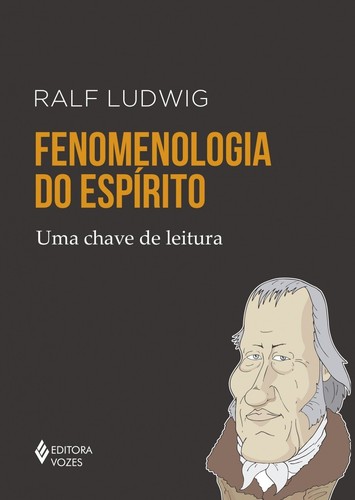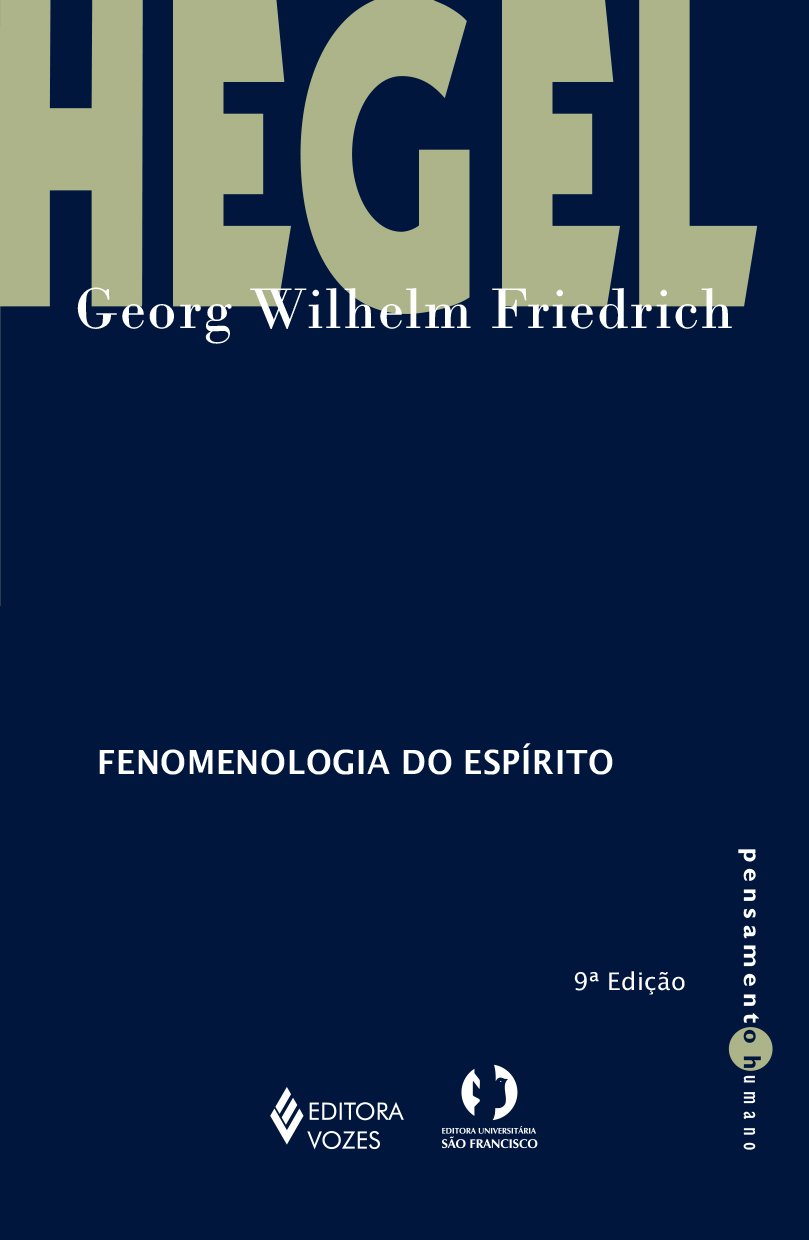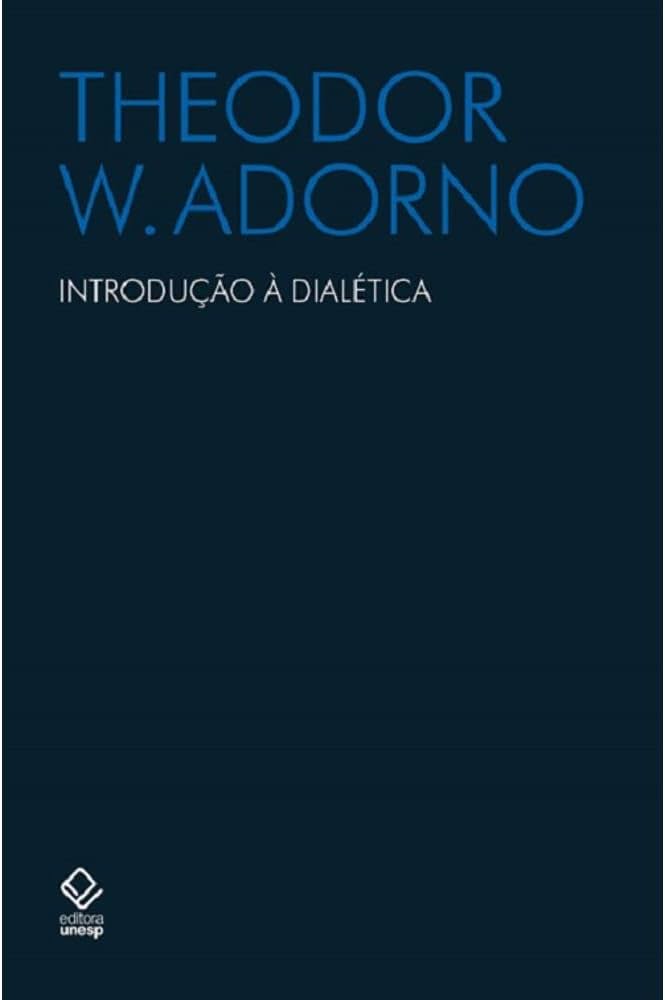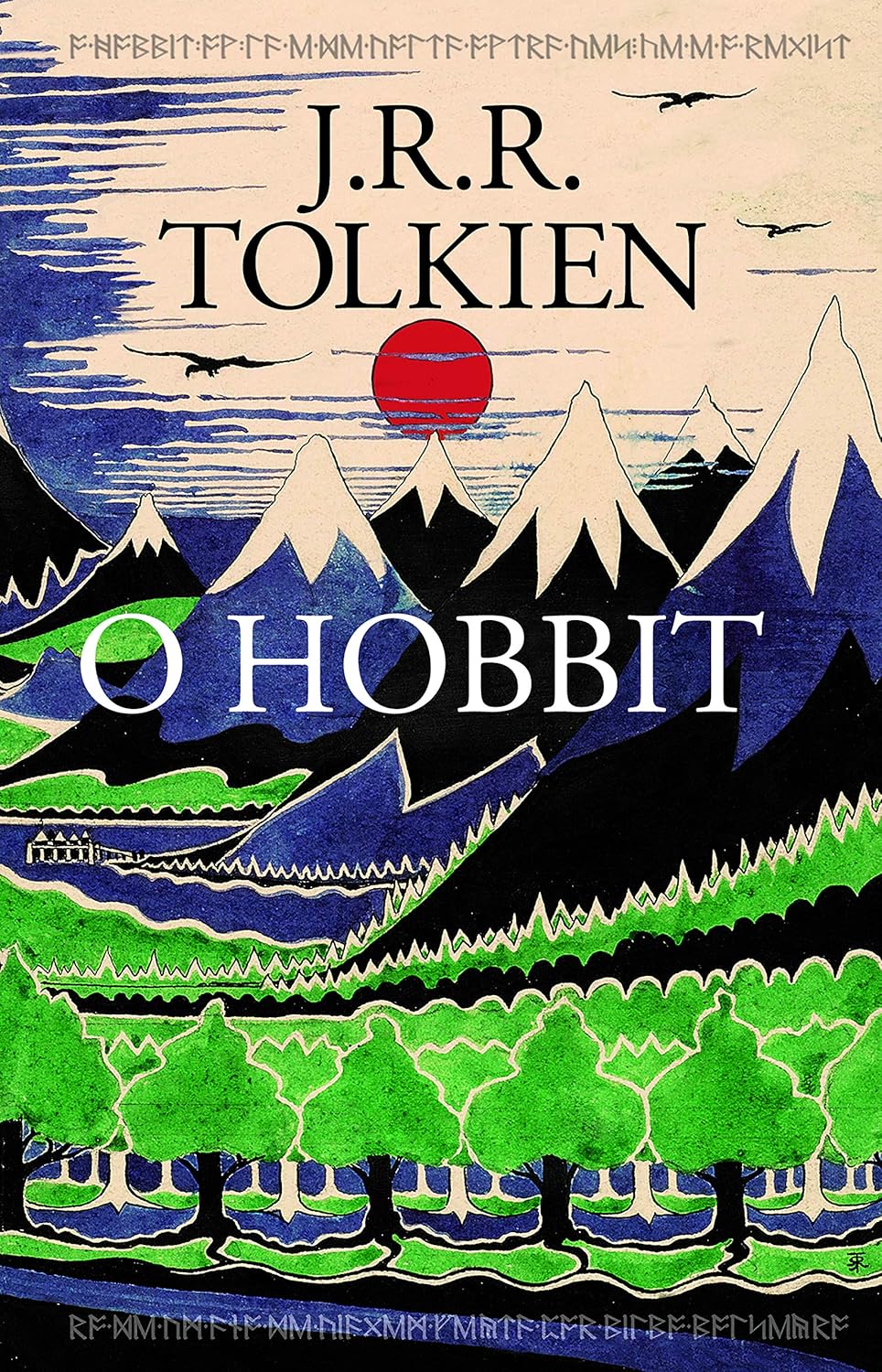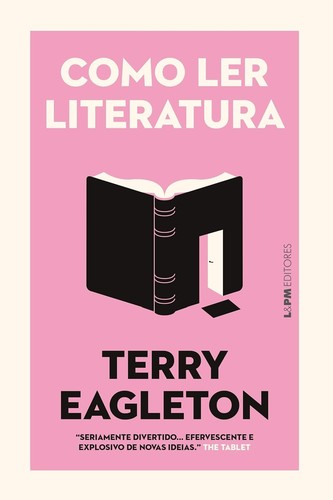Permitam-me expressar analogamente assim, lançando mão de uma expressão de caráter teológico: o conceito de verdade na dialética seria um conceito negativo de verdade, assim como há uma teologia negativa. 28 ; Se Espinosa ensinou a célebre frase segundo a qual seria o "verum index sui et jalsi", 2 ~4 então diríamos, em contrapartida, que na dialética 'jalsum index sui etveri". 285 Isso significa que não há um conceito positivo, tangível, coisa de verdade, tal como apenas nos estaria assegurado só a pretensão de identidade imediata da ordem das coisas e dos conteúdos [ Ordnung der Dingen und der Sachen]. Porém, de outro lado, é evidente que essa força, da qual vive a própria intelecção na inverdade, é justamente a ideia de verdade. Acontece que não temos a própria ideia de verdade como algo dado, ela é apenas como que a fonte de luz a partir da qual a negação determinada, a intelecção do não verdadeiro [enquanto algo] determinado, propriamente sucede - tal como é formulado numa sentença de "Pandora", a qual fiz constar recentemente como mote na epígrafe de um trabalho: "destinada a ver o ilu- minado, não a luz". 286 Em outras palavras, a dialética também não pode aceitar a tradicional diferenciação entre gênese e validade. Ela tampouco pode se apropriar da posição, defendida talvez pelo psicologismo mais extremo - ou, melhor dizendo, pelo psicologismo de qualquer estirpe -, segundo a qual toda espécie de verdade se esgotaria em sua origem, de maneira que a ideia de verdade enquanto tal seria dissolvida, digamos, tão logo se tenha chegado a ver, nem que seja por uma vez, como são as coisas por trás dela, alcançando aquilo a partir do que ela própria teria surgido. Eu gostaria aqui de evocar expressa- mente o pensamento de Nietzsche, o qual com enorme razão censurou à consciência tradicional o fato de ela ensinar que aquilo que em determinado momento teve seu surgimento [das Entsprungene] não poderá ser o verdadeiro, isto é, que o que veio a ser jamais poderia ser fundamentalmente diferente daquilo de onde surgiu.287 Porém, caso vocês aceitem a concepção dia- lética contra a filosofia do originário [ Ursprungsphilosopbie], tal como tentei lhes apresentar, isto é, que aquilo que se origina é ou pode ser qualitativamente diferente em relação àquilo de onde se originou, então perderia também efeito a crença de que 270 se poderia, recorrendo à gênese// de um conteúdo [ Gehalt] espiritual, liquidar com sua verdade, de que assim sua verdade estaria como que revogada. Todavia, inversamente, as coisas sucedem também de tal maneira que a hipóstase de uma verdade, seja ela qual for - ou seja, a hipóstase que não considera aquele processo em que, sim, consiste a vida mesma da verdade, em que ela se origina e também soçobra, em que ela adquire, enfim, seu conteúdo próprio -, que tal hipóstase da verdade, contrapondo-se a seu surgimento [Entstehen] e, portanto, apelando à absolutização da validade em detrimento da gênese, é tão falsa quanto a relativização em termos da gênese. Nesse ponto, a análise dialética teria propriamente de destroçar a alternativa à qual nos vemos aqui atrelados - teria ela mesma de compreender essa alternativa como meramente superficial [vordergründ{g], como produto de um pensamento reificado, em . vez de se submeter a essa alternativa.