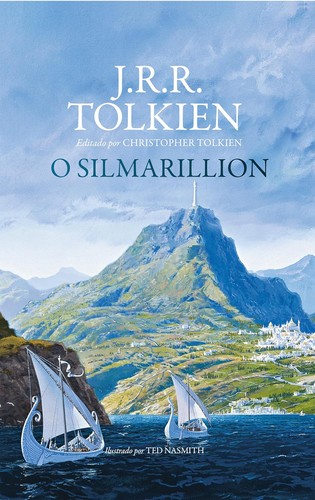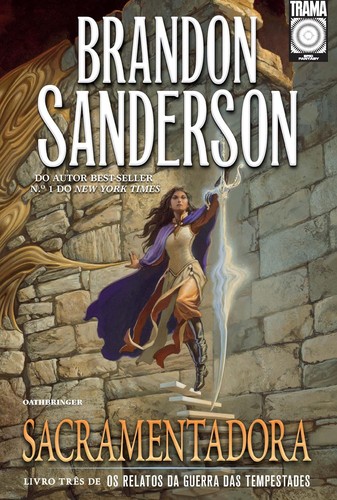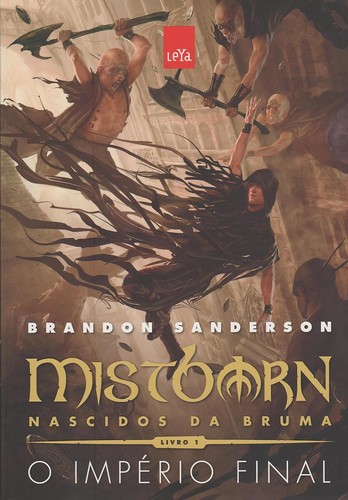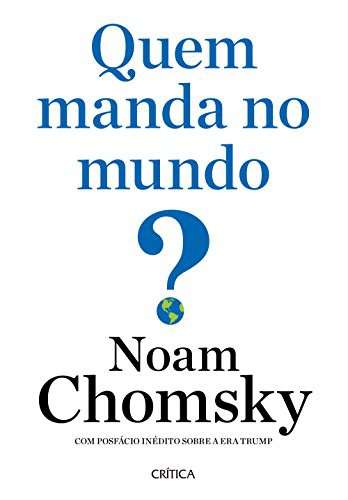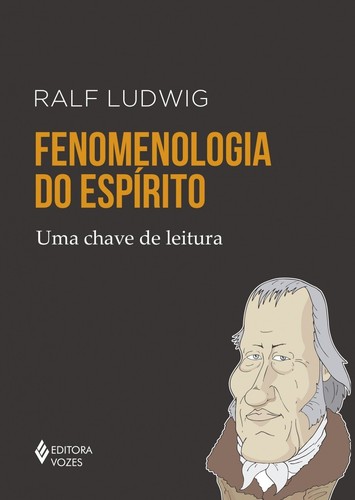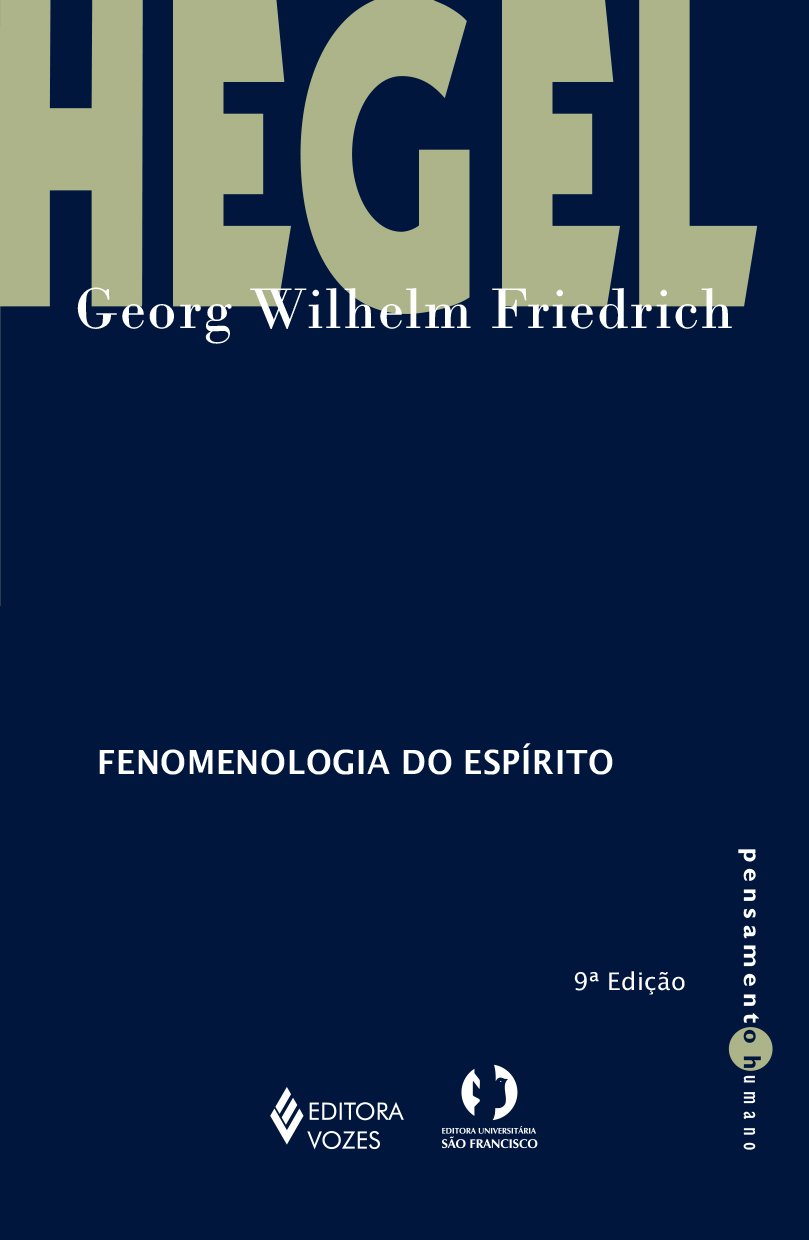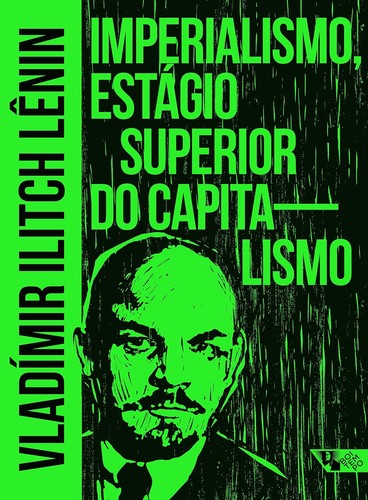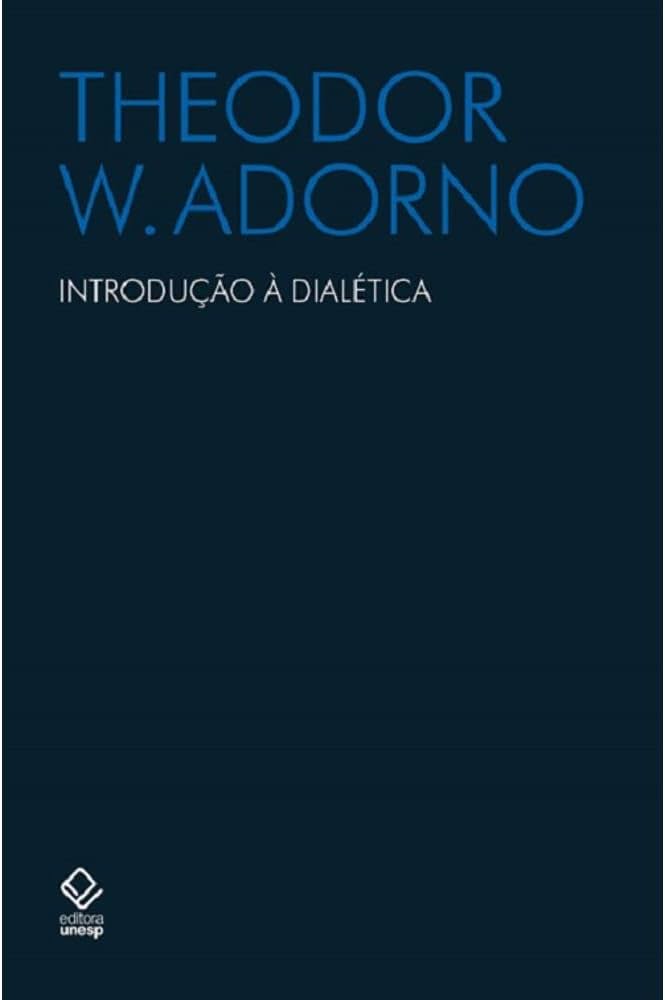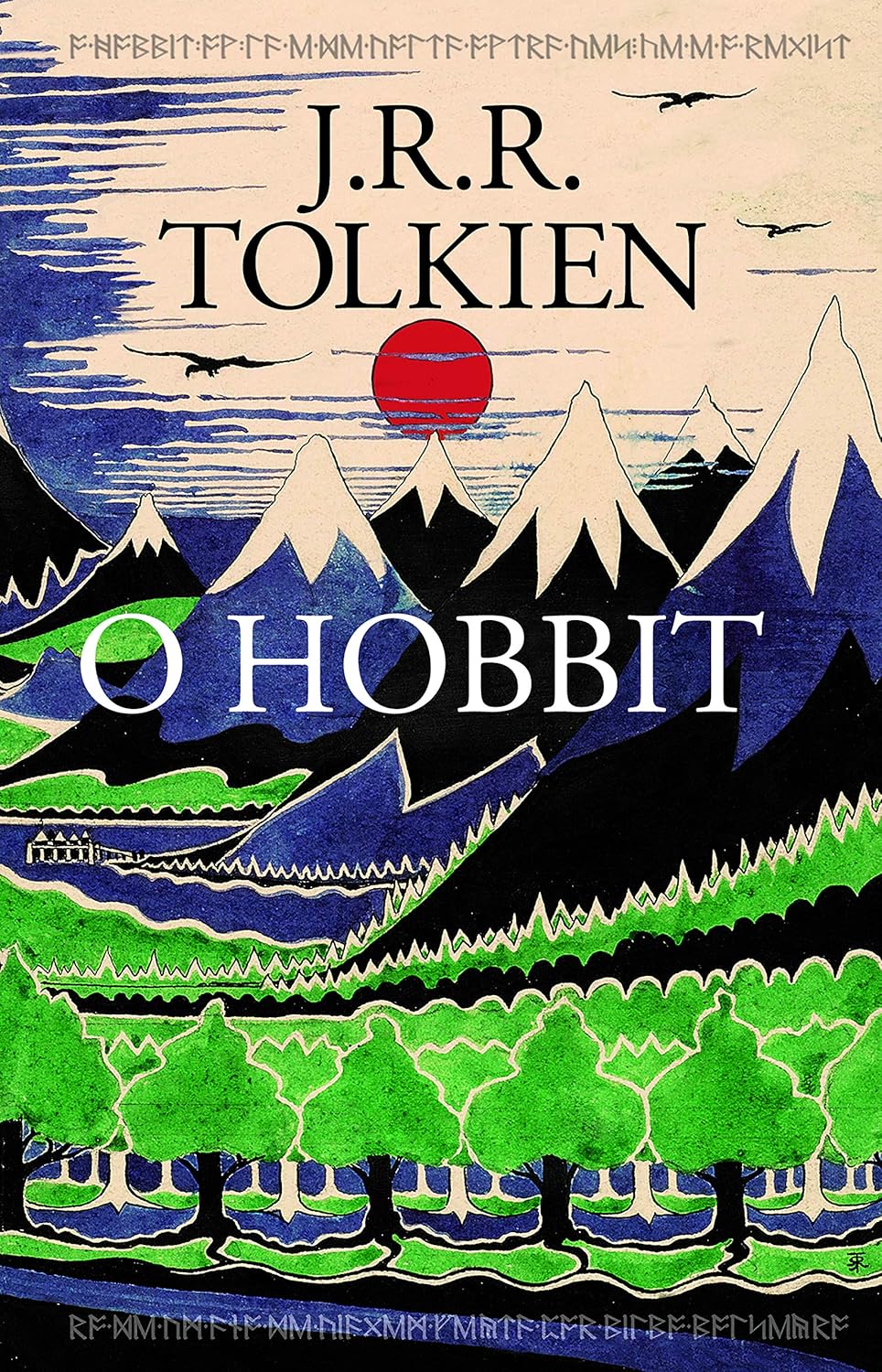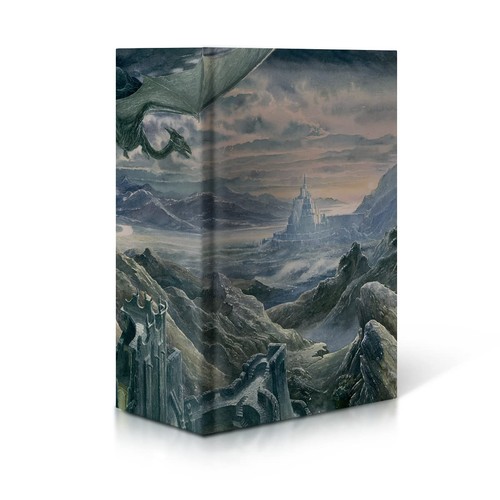20 [Das Wahre ist] O verdadeiro é o todo. Mas o todo é somente a essência que se implementa através de seu desenvolvimento. Sobre o absoluto, deve-se dizer que é essencialmente resultado; que só no fim é o que é na verdade. Sua natureza consiste justo nisso: em ser algo efetivo, em ser sujeito ou vir-a-ser-de-si-mesmo. Embora pareça contraditório conceber o absoluto essencialmente como resultado, um pouco de reflexão basta para dissipar esse semblante de contradição. O começo, o princípio ou o absoluto como de início se enuncia imediatamente são apenas o universal. Se digo: "todos os animais", essas palavras não podem valer por uma zoologia. Do mesmo modo, as palavras "divino", "absoluto", "eterno" etc. não ex-primem o que nelas se contém; de fato, tais palavras só exprimem a intuição como algo imediato. A passagem que é mais que uma palavra dessas - contém um tornar-se Outro que deve ser retomado, e é uma mediação; mesmo que seja apenas passagem a outra proposição. Mas o que horroriza é essa mediação: como se fazer uso dela fosse abandonar o conhecimento absoluto - a não ser para dizer que a mediação não é nada de absoluto e que não tem lugar no absoluto.
21-[Dies Pehorreszieren) Na verdade, esse horror se origina da ignorância a respeito da natureza da mediação e do próprio conhecimento absoluto. Com efeito, a mediação não é outra coisa senão a igualdade-consigo-mesmo semovente, ou a reflexão sobre si mesmo, o momento do Eu para-si-essente, a negatividade pura ou reduzida à sua pura abstração, o simples vir-a-ser. O Eu, ou o vir-a-ser em geral - esse mediatizar -, justamente por causa de sua simplicidade, é a imediatez que vem-a-ser, e o imediato mesmo.
É, portanto, um desconhecer da razão [o que se faz] quando a reflexão é excluída do verdadeiro e não é compreendida como um momento positivo do absoluto. É a reflexão que faz do verdadeiro um resultado, mas que ao mesmo tempo suprassume essa oposição ao seu vir-a-ser; pois esse vir-a-ser é igualmente simples, e não difere por isso da forma do verdadeiro, [que consiste] em mostrar-se como simples no resultado ou melhor, que é justamente esse Ser retornado à simplicidade.
Se o embrião é de fato homem em si, contudo não é para si. Somente como razão cultivada e desenvolvida que se fez a si mesma o que é em si é homem para si; só essa é sua efetividade. Porém, esse resultado, por sua vez, é imediatez simples, pois a liberdade consciente-de-si repousa, e que não deixou de lado a oposição e ali a abandonou, mas se reconciliou com ela.
22-[Das Gesagte kann) Pode exprimir-se também o acima ex posto dizendo que "a razão é o agir conforme a um fim". A forma do fim em geral foi levada ao descrédito pela exaltação de uma pretendida natureza acima do pensamento mal compreendido -, mas sobretudo pela proescrição de toda a finalidade externa. Mas importa notar que como Aristóteles também determina a natureza como um agir conforme a um fim o fim é o imediato, o-que-esta-em-re-pouso, o imóvel que é ele mesmo motor e que assim é sujeito. Sua força motriz, tomada abstratamente, é o ser-para-si ou a negatividade pura. Portanto, o resultado é somente o mesmo que o começo, porque o começo é fim; ou, [por outra], o efetivo só é o mesmo que seu conceito, porque o imediato como fim tem nele mesmo o Si, ou a efetividade pura.
O fim, implementado, ou o efetivo essente é movimento e vir-a-ser desenvolvido. Ora, essa inquietude é justamente o Si; logo, o Si é igual àquela imediatez e simplicidade do começo, por ser o resultado que a si mesmo retornou. Mas o que retornou a si é o Si, exatamente; e o Si é igualdade e simplicidade, consigo mesmas relacionadas.
23- [Das Bedürfnis) A necessidade de representar o absoluto como sujeito serviu-se das proposições: "Deus é o eterno" ou "a ordem moral do mundo" ou "o amor" etc. Em tais proposições, o verdadeiro só é posto como sujeito diretamente, mas não é representado como o movimento do refletir-se em si mesmo. Numa proposição desse tipo se começa pela palavra "Deus". De si, tal palavra é um som sem sentido, um simples nome; só o predicado diz o que Deus é. O predicado é sua implementação e seu significado; só nesse fim o começo vazio se torna um saber efetivo. Entretanto, é inevitável a questão: por que não se fala apenas do eterno, da ordem moral do mundo etc.; ou, como faziam os antigos, dos conceitos puros do ser, do uno etc., daquilo que tem significação, sem acrescentar o som sem-significação? Mas é que através dessa palavra se indica justamente que não se põe um ser, ou essência, ou universal em geral, e sim algo refletido em si mesmo: um sujeito. Mas isso também é somente uma antecipação.
Toma-se o sujeito como um ponto fixo, e nele, como em seu suporte, penduram-se os predicados, através de um movimento que pertence a quem tem um saber a seu respeito, mas que não deve ser visto como pertencente àquele ponto mesmo; ora, só por meio desse movimento o conteúdo seria representado como sujeito. Da maneira como esse movimento está constituído, não pode pertencer ao sujeito; mas, na pressuposição daquele ponto fixo, não pode ser constituído de outro modo; só pode ser exterior. Assim, aquela antecipação de que o absoluto é sujeito - longe de ser a efetividade desse conceito, torna-a até mesmo impossível, já que põe o absoluto como um ponto em repouso; e, no entanto, a efetividade do conceito é o automovimento.
24 - [Unter mancherlei) Entre as várias consequências decorrentes do que foi dito, pode-se ressaltar esta: que o saber só é efetivo e só pode ser exposto como ciência ou como sistema. Outra consequência é que, uma assim chamada proposição fundamental (ou princípio) da filosofia, se é verdadeira, já por isso é também falsa, enquanto é somente proposição fundamental ou princípio. Por isso é fácil refutá-la. A refutação consiste em indicar-lhe a falha. Mas é falha por ser universal apenas, ou princípio; por ser o começo.
Se a refutação for radical, nesse caso é tomada e desenvolvida do próprio princípio, e não estabelecida através de asserções opostas ou palpites aduzidos de fora. Assim, a refutação seria propriamente seu desenvolvimento e, desse modo, o preenchimento de suas lacunas caso aí não se desconheça, focalizando exclusivamente seu agir negativo, sem levar em conta também seu progresso e resultado segundo seu aspecto positivo.
Em sentido inverso, a atualização positiva, propriamente dita, do começo, é ao mesmo tempo um comportar-se negativo a seu respeito quer dizer, a respeito de sua forma unilateral de ser só imediatamente, ou de ser fim. A atualização pode assim ser igualmente tomada como refutação do que constitui o fundamento do sistema; porém, é mais correto considerá-la como um indício de que o fundamento ou o princípio do sistema é de fato só o seu começo.
25-[Dass das Wahre) O que está expresso na representação, que exprime o absoluto como espírito, é que o verdadeiro só é efetivo como sistema, ou que a substância é essencialmente sujeito. [Eis] o conceito mais elevado que pertence aos tempos modernos e à sua religião. Só o espiritual é o efetivo: é a essência ou o em-si-essente: o relacionado consigo e o determinado; o ser-outro e o ser-para-si; e o que nessa determinidade ou em seu ser-fora-de-si permanece em si mesmo enfim, o [ser] espiritual é em-si-e-para-si.
Porém, esse ser-em-si-e-para-si é, primeiro, para nós ou em-si: é a substância espiritual. E deve ser isso também para si mesmo, deve ser o saber do espiritual e o saber de si como espírito. Quer dizer: deve ser para si como objeto, mas ao mesmo tempo, imediatamente, como objeto suprassumido e refletido em si. Somente para nós ele é-para-si, enquanto seu conteúdo espiritual é produzido por ele mesmo. Porém, enquanto é para si também para si mesmo, então é esse autoproduzir-se, o puro conceito; é também para ele o elemento objetivo, no qual tem seu ser-aí e desse modo é, para si mesmo, objeto refletido em si no seu ser-aí.
O espírito, que se sabe desenvolvido assim como espírito, é a ciência. A ciência é a efetividade do espírito, o reino que ele para si mesmo constrói em seu próprio elemento.
26-[Das reine Selbsterkennen) O puro reconhecer-se-a-si-mes-mo no absoluto ser-outro, esse éter como tal, é o fundamento e o solo da ciência, ou do saber em sua universalidade. O começo da filosofia faz a pressuposição ou exigência de que a consciência se encontre nesse elemento. Mas esse elemento só alcança sua perfeição e transparência pelo movimento de seu vir-a-ser. É a pura espiritualidade como o universal, que tem o modo da imediatez simples. Esse simples, quando tem como tal a existência, é o solo da ciência, [que é] o pensar, o qual só está no espírito. Porque esse elemento, essa imediatez do espírito é, em geral, o substancial do espírito, é a essencialidade transfigurada, a reflexão que é simples ela mesma, a imediatez tal como é para si, o ser que é reflexão sobre si mesmo.
A ciência, por seu lado, exige da consciência-de-si que se tenha elevado a esse éter, para que possa viver nela e por ela; e para que viva. Em contrapartida, o indivíduo tem o direito de exigir que a ciência lhe forneça pelo menos a escada para atingir esse ponto de vista, e que o mostre dentro dele mesmo. Seu direito funda-se na sua independência absoluta, que sabe possuir em cada figura de seu saber, pois em qualquer delas - seja ou não reconhecida pela ciência, seja qual for o seu conteúdo, o indivíduo é a forma absoluta, isto é, a certeza imediata de si mesmo, e assim é o ser incondicionado, se preferem a expressão. Para a ciência, o ponto de vista da consciência saber das coisas objetivas em oposição a si mesma, e a si mesma em oposição a elas vale como o Outro: esse Outro em que a consciência se sabe junto a si mesma, antes como perda do espírito. Para a consciência, ao contrário, o elemento da ciência é um Longe além, em que não se possui mais a si mesma. Cada lado desses aparenta, para o outro, ser o inverso da verdade. Para a consciência natural, confiar-se imediatamente à ciência é uma tentativa que ela faz de andar de cabeça para baixo, sem saber o que a impele a isso. A imposição de assumir tal posição insólita, e de mover-se nela, é uma violência inútil para a qual não está preparada.
A ciência, seja o que for em si mesma, para a consciência-de-si imediata se apresenta como um inverso em relação a ela. Ou seja: já que a consciência imediata tem o princípio de sua efetividade na certeza de si mesma, a ciência, tendo fora de si esse princípio, traz a forma da inefetividade. Deve portanto unir consigo esse elemento, ou melhor, mostrar que lhe pertence e como. Na falta de tal efetivi-dade, a ciência é apenas o conteúdo, como o Em-si, o fim que ainda é só um interior, não como espírito, mas somente como substância espiritual. Esse Em-si deve exteriorizar-se e vir-a-ser para si mes-mo, o que não significa outra coisa que: deve pôr a consciência-de-si como um só consigo.